O Cafezinho está aberto para publicação de contos inéditos, exclusivos ou raros. A ideia é divulgarmos novos e bons autores neste espaço.
Se você quer que o seu trabalho seja publicado aqui, nos envie o material para denasgodinho@gmail.com ou info@ocafezinho.com e vamos avaliá-lo.
Hoje o conto inédito é do escritor Renato Zapata.
Renato é jornalista e autor do livro de minicontos “Estopa”, lançado de forma independente, e do infantil “Menino Semente” (editora MOVpalavras). Este texto, “Um tanto de água”, integra um novo volume só de contos que ainda está em produção.
O texto é publicado com autorização expressa do autor.
Para saber mais sobre Renato Zapata, entre em contato através do e-mail renato_zapata@yahoo.com.br
Um Tanto de Água
Não tenho mais sede. De um dia pro outro, sedento que era de beber, desmedido no que fosse às doses, aconteceu de não querer sequer um gole d’água. Deixei de salivar, de chorar quando precisasse, de suar entre um esforço e outro. Das chuvas, da necessidade que tinha de me encharcar, nada me interessa. Nem mesmo o burburinho das gotas sobre o telhado, para dormir basta-me um travesseiro. Cubro-me de conchas nos ouvidos, reproduzo-me calado só para escutar, feito uma textura, a maré dentro de mim.
Antes eu prenunciava tempestades, arremessava-me aos possíveis trovões. E nisto de tanto clamar à chuva transbordei. Um raio atingiu minhas têmporas, alargadas fatalmente num descuido enquanto nadava no mar que agora ouço da janela, um repouso nas ondas. Desde o acidente – como se fosse justo chamá-lo de acidente, melhor seria dizê-lo o dia que emudeci –, desde lá sobrevivo do silêncio. Antes, não. Consumia-me cada novidade, antes sim, cada espasmo dos músculos. Hoje já estou de sobreaviso, não me preocupo mais com o temperamento do mundo.
Não ter sede é como não respirar ou, quem diria, não aspirar a nada. É uma sequela. Do caldo que tomei, às sobras de mim, restaram poucos passos até que eu caísse: a marca dos pés, e dos joelhos, e dos dentes na areia. Esvaziei-me então numa maca. Primeiro os bombeiros tentaram me reanimar, em vão, e em seguida a ambulância; fiz esforço para sobreviver, provavelmente esforço demais, lembro somente de ter a boca seca. Apaguei assim que os enfermeiros ligaram as sirenes para me carregar, e tranquilizei-me porque aquilo não deveria ser apelidado de morrer, e sim esquecer-se de um bocado de dor. Meu corpo anestesiava-se por compreensão da morte, aos poucos e inevitavelmente abatido. Porém trouxeram-me para cá, e neste hospital, cheio de compressas, não sei nem quantos dias já se passaram. Desfez-se a relevância do tempo. Em coma – desmemoriado –, aprendi a bastar, quase a abster-me, a não julgar se lá fora faz dia ou se faz noite.
Mas durante algum tempo, quando ainda sentia falta de me mexer, tentei escapar para além daquele quarto, imaginando-me um espectro que pudesse caminhar. Reconhecia as ruas e o mar, as bancas de jornal e as cadeiras de praia, os postes de iluminação e os letreiros, e coisa nenhuma me satisfazia. Queria saber se quem me visitava fazia parte ou não da minha família, se de fato meus amigos eram de verdade. Empenhei-me seguidamente em recuperar a memória. Mas qual era o meu rosto dentre tantos que eu imaginava? Nem disso conseguia me lembrar. Cheguei até a apostar todas as fichas numa espécie de padre que a minha suposta mãe trouxe. Ele me benzeu, e aquela água espirraçou em mim com a sincronia de um cardume, borbulhou, borbulhou, e nada.
Nessa época ainda ouvia um punhado de vozes. A mais comum era mesmo a da minha mãe, que às vezes eu suspeitava ser uma fraude, tamanha a dramaticidade dela; havia também as enfermeiras, e por sorte elas gostavam de se revezar, e além disso raramente cometiam a tolice de conversar comigo. Mas um dos meus irmãos, o mais novo, fazia questão: contou-me que eu não era o único em coma naquele hospital: uma menina, de cabelos trançados, que segundo ele mais parecia uma boneca de porcelana, morava no quarto ao lado. Éramos assim, eu e ela, cúmplices num microcosmo de bonecos encubados, e eu me iludia tornando-nos companheiros imaginários. A antiga namorada, diziam-me, desaparecera ao saber do meu estado fictício de vida, um estado intacto e, por assim dizer, anônimo. Pouco me importava com ela. Tinha a impressão de que, neste caso, a sorte estivera do meu lado, sendo ela um incômodo a menos.
Às vezes era obrigado a inalar a leitura debilmente proferida pela minha mãe – cada frase soava como distância, e ao mesmo tempo aproximação; se ela lesse a palavra café, por exemplo, eu praticamente sentia o aroma, o gosto amargo, mas ainda assim me irritava aquela voz sempre lamuriosa –, e ela propunha versos, torturava-me com a leitura de uns contos ditos universais. Dizia que eu adorava ler, e eu só podia entender isso como parte de uma vida passada, talvez de um antepassado. Aquilo não fazia sentido, não através daquela forma esgarçada de se ler. Concentrava-me logo dali para o corredor, para o barulho das macas, da conversa dos médicos, e principalmente do mar. Foi enquanto aquela mulher assoava em mim seus lamentos literários que percebi o quanto podia ouvi-lo, o mar escancarado, sedento, insolúvel, que me atraía a um outro movimento de ser.
Foi também sem o meu consentimento, certa vez – como se isso fosse possível –, que alguns médicos tentaram me reanimar. Uma última tentativa, iriam embriagar-me. Dois médicos e uma enfermeira então entraram carregando o que soube ser um galão e com uma injeção deram-me de beber. Água, essencialmente. Um típico afogamento. Jogaram-me numa bacia e me afundaram por completo, arrastado, sugando, e em litros subsequentes eles me ensoparam, numa bebedeira incontornável, e mergulhando eu submergia a um estado líquido, havia algo vazando de mim para que entrasse água, e eu sangrava porque bati a cabeça numa pedra, me lembrei, e de súbito engasguei eles quase conseguiram que eu respirasse quase que voltasse à tona do mundo. Mas, enfim, desistindo, de novo regaram-me com tubos de ar e algum remédio. Encharcado, estava entregue de vez à ressaca do mar, a um tanto de água que me mantém no que chamam de espera, e no que chamo de marear-se.
É como se vivesse ancorado em um barco. Uma canoa sem remos. De onde estou encontro a maresia a bordo de uma marola sem-fim, e da enseada distraio-me com a arrebentação tão distante, somando-me ao vento, e descanso, e flutuo, e desacato pacificamente as ondas, ao ouvi-las, não guardo remorsos do mar. Tenho-lhe, pelo contrário, um sintoma: faço-me de navegante, apartei-me do resto; permaneço aportado em seu leito, indefinidamente, tão ao meu posto.






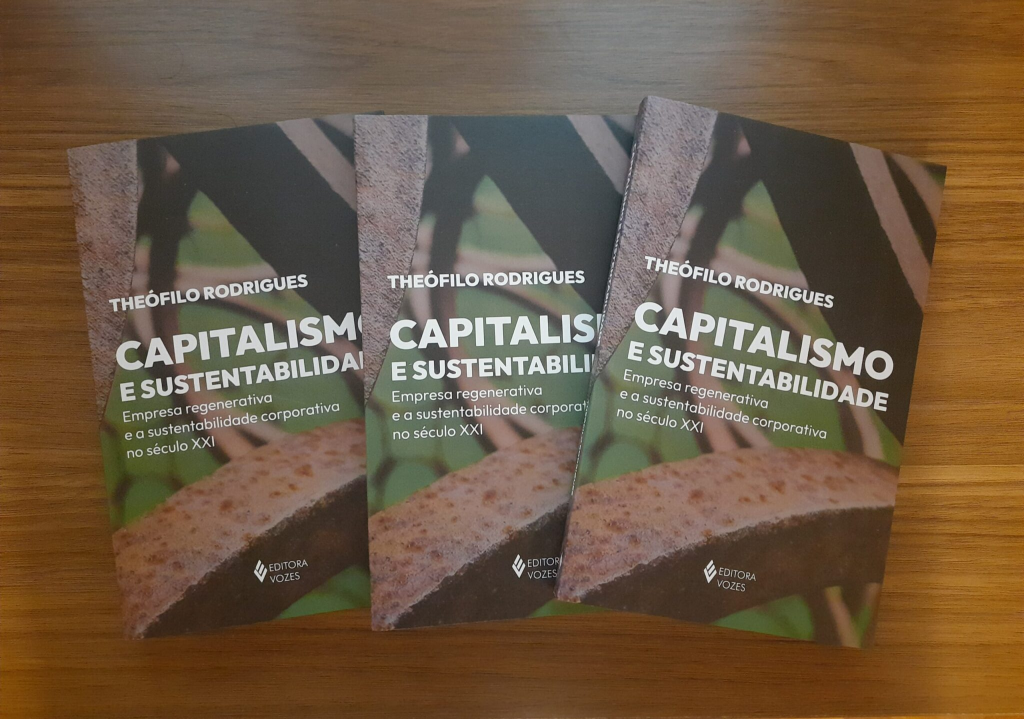
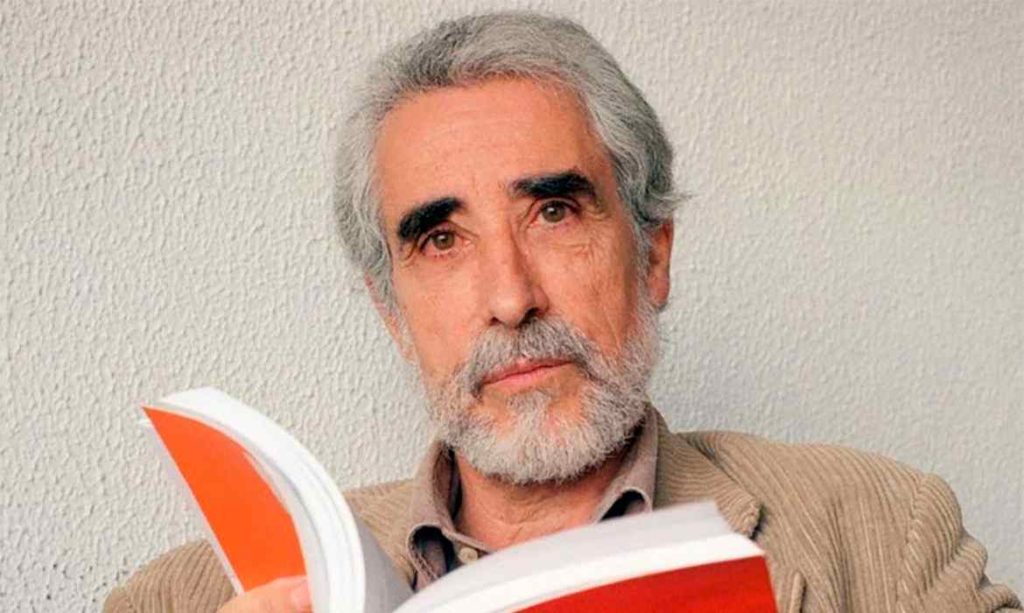


Maria Regina Novaes
16/11/2015 - 23h59
Umtanto e água pra alguns e tanta falta pra outros!
Maria Regina Novaes
16/11/2015 - 23h59
Umtanto e água pra alguns e tanta falta pra outros!