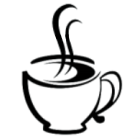A negação dos problemas sociais aprofunda contradições, alimenta ilusões e acelera o declínio estrutural diante de um império em crise
As sociedades sobrevivem e crescem quando conseguem navegar com sucesso suas contradições. Eventualmente, no entanto, contradições acumuladas sobrecarregam os meios existentes de lidar com elas.
Então surgem problemas sociais que persistem ou pioram dentro dessas sociedades, porque não são resolvidos com sucesso ou são ignorados. Às vezes, a reação consciente dominante a esses problemas sociais é a negação, uma recusa em enxergá-los.
Negar problemas sociais internos substitui a navegação das contradições que os causam. O declínio social resultante, assim como o conjunto de contradições internas que ele reflete, é negado e ignorado. Em vez disso, surgem narrativas ou discursos que posicionam essas sociedades como vítimas de abusos por parte de estrangeiros.
Os Estados Unidos em 2025 ilustram esse processo: seus discursos de recusa visam acabar com sua suposta vitimização.
Nos Estados Unidos de hoje, um desses discursos recusa-se a permitir o “abuso contínuo por estrangeiros que ameaçam nossa segurança nacional”. Esse discurso culpa a má liderança política dos EUA por não colocar a América em primeiro lugar e, assim, fazê-la grande novamente.
Outro discurso exige que “não permitamos que nossa democracia seja destruída por inimigos estrangeiros (e seus equivalentes domésticos): pessoas que supostamente odeiam, não entendem ou subestimam nossa democracia”.
Ainda outro discurso de recusa vê estrangeiros “trapaceando” os Estados Unidos em processos comerciais e de migração. A maioria dos americanos adota uma ou mais dessas narrativas. No entanto, como propomos demonstrar aqui, esses discursos são cada vez menos eficazes.
Um discurso reacionário, o de Trump, acena para uma grandeza passada ao literalmente renovar o imperialismo americano. Ele ameaça retomar o Canal do Panamá, transformar o Canadá no 51º estado dos Estados Unidos, conquistar a Groenlândia da Dinamarca e, possivelmente, invadir o México.
Todos esses estrangeiros são retratados como uma ameaça à segurança nacional ou como “trapaceiros” dos Estados Unidos. Colocando de lado as bravatas típicas de Trump, isso representa um expansionismo notável. Esses gestos colonialistas repetidos alimentam noções mais amplas de tornar a América grande novamente.
O colonialismo ajudou repetidamente o capitalismo europeu a navegar suas contradições internas (escapando temporariamente dos problemas sociais que causava). No entanto, eventualmente, ele não conseguiu mais desempenhar esse papel. Após a Segunda Guerra Mundial, o anticolonialismo limitou esse escape.
Os subsequentes neocolonialismos europeus e o colonialismo informal do império americano tiveram vida útil mais curta. China e o restante dos países do BRICS estão, agora, fechando essa saída em todos os lugares. Daí a fúria frustrada na insistência de Trump em recusar esse fim ao deliberadamente reabrir a ideia de um escape por meio de expansões coloniais.
Isso se assemelha à ideia de Netanyahu (ainda que não à sua violência) de tentar reabrir essa porta para Israel, expulsando palestinos de Gaza. O apoio dos Estados Unidos a Netanyahu associa, de forma semelhante, os EUA à violência colonialista em um mundo majoritariamente comprometido em acabar com o colonialismo e seu legado indesejado.
Os Estados Unidos ostentam o mais forte aparato militar do mundo. A retórica dominante no país apresenta tudo o que ele faz como autodefesa, supostamente necessária contra inimigos estrangeiros.
Isso justifica o governo gastar muito mais em defesa do que nos poucos problemas sociais internos que essa retórica sequer reconhece. No entanto, os Estados Unidos perderam as guerras no Vietnã, no Afeganistão, no Iraque e agora na Ucrânia, e os sistemas militares desses países estavam longe de ser os mais fortes do mundo. Descobriu-se que a proliferação de armas nucleares e a competição técnica entre potências nucleares mudaram os equilíbrios militares globais.
As subestimações grosseiras dos Estados Unidos sobre as capacidades militares da Rússia em 2022 ilustram essa mudança de forma muito dramática. Elas também mostram que uma retórica que enfatiza a recusa em ser vitimizado por forças militares estrangeiras minou ou substituiu análises sóbrias de um mundo militarmente transformado.
Agora, o mundo observa não apenas as mudanças nas configurações militares globais, mas também os altos custos das negações dessas mudanças pelos líderes dos EUA. Líderes políticos e econômicos em outros lugares estão repensando suas estratégias de acordo. Retóricas de recusa em ser vitimizado podem se tornar autodestrutivas.
Outro motivo pelo qual esses líderes estão redesenhando seus planos de crescimento decorre dos declínios interligados do império dos EUA e do sistema capitalista americano. O que os líderes dos EUA negam, muitos líderes estrangeiros têm incentivos para ver, avaliar e explorar.
Os membros do BRICS (9) e seus parceiros (9), a partir de janeiro de 2025, representam quase metade da população mundial e 41% do PIB global (em termos de paridade de poder de compra). Quatro outras nações foram convidadas e provavelmente se juntarão em 2025: Vietnã, Turquia, Argélia e Nigéria.
A Indonésia acabou de se juntar como parceira plena do BRICS, acrescentando sua população de aproximadamente 280 milhões. Em contraste, o G7 — o segundo maior bloco econômico do mundo — representa cerca de 10% da população mundial e 30% do seu PIB (também em termos de paridade de poder de compra).
Além disso, como os dados do Fundo Monetário Internacional documentam, os últimos anos mostram um crescente fosso entre as taxas de crescimento anual do PIB dos EUA, líder do G7, e da China e Índia, líderes do BRICS.
Ao longo da história do capitalismo, desde os tempos iniciais na Inglaterra até o auge do império americano no início do século 21, a maioria das nações concentrou-se principalmente no G7 ao formular estratégias de crescimento econômico, dívida, comércio, investimentos, taxas de câmbio e balanças de pagamentos. Grandes e médias empresas fizeram o mesmo.
No entanto, nos últimos 15 a 20 anos, países e empresas enfrentaram uma nova e diferente situação global. China, Índia e os demais países do BRICS oferecem um foco alternativo possível. Agora, todos podem jogar os dois blocos um contra o outro.
Além disso, nesse jogo, os BRICS agora possuem cartas melhores e mais ricas do que o G7. Retóricas de recusa interpretam essas mudanças na economia global como intenções malignas de outros estrangeiros — que provavelmente odeiam a democracia.
Os Estados Unidos, argumenta-se, devem recusar-se com razão e, assim, frustrar essas intenções. Em contraste, muito menos atenção é dada a como os problemas sociais internos dos EUA moldam e são moldados por uma economia global em mudança.
A economia mundial em transformação e o declínio relativo do G7 dentro dela levaram o capitalismo dos EUA a se afastar da globalização neoliberal em direção ao nacionalismo econômico. Tarifas, guerras comerciais e pronunciamentos ideológicos de “América em primeiro lugar” são formas concorrentes dessa guinada para dentro.
Outra forma é o apelo para trazer partes de fora dos Estados Unidos para dentro: as ameaças imperialistas pouco sutis de Trump dirigidas ao Canadá, México, Dinamarca e Panamá. Outra forma ainda é o aviso que muitas grandes faculdades e universidades dos EUA estão enviando a estudantes matriculados de outros países (mais de um milhão no ano passado).
Sugere-se que considerem a probabilidade de grandes dificuldades de visto para concluir seus cursos, em meio à crescente hostilidade do governo dos EUA em relação a estrangeiros. Uma presença reduzida de estudantes estrangeiros enfraquecerá a influência dos EUA no exterior por anos (assim como fomentou essa influência no passado).
Instituições de ensino superior dos EUA, já enfrentando sérias dificuldades financeiras, verão essas dificuldades se aprofundarem à medida que estudantes estrangeiros pagantes escolhem outros países para seus diplomas. A retórica de “América em primeiro lugar” arrisca a autodestruição da posição global dos Estados Unidos.
Politicamente, a estratégia dos EUA desde a Segunda Guerra Mundial foi conter ameaças estrangeiras percebidas por uma combinação de poder “duro” e “brando”. Isso permitiria aos Estados Unidos eliminar o comunismo, o socialismo e, após a implosão soviética de 1989, o terrorismo, onde fosse possível, de forma aberta ou secreta.
O poder duro seria exercido pelo exército dos EUA por meio de centenas de bases militares estrangeiras cercando nações percebidas como ameaçadoras e por meio de invasões, se, quando e onde considerado necessário.
O poder duro também assumiu a forma de ameaças implícitas de guerra nuclear (tornadas críveis pelos bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki pelos EUA) e pelos gastos totais dos EUA na corrida armamentista nuclear e não nuclear que nenhum outro país, sozinho ou em grupo, poderia igualar.
O “poder brando” serviria globalmente para projetar definições particulares de democracia, liberdades civis, ensino superior, conquistas científicas e cultura popular. Essas definições foram apresentadas como as melhores e mais exemplificadas pelo que realmente existia nos Estados Unidos.
Dessa forma, os Estados Unidos poderiam ser exaltados como o ápice global da realização humana civilizada: um tipo de discurso parceiro de outros discursos que negavam problemas sociais internos. Inimigos, então, poderiam ser prontamente demonizados como inferiores.
O poder brando dos EUA foi e continua sendo uma espécie de propaganda política. O anunciante comercial habitual promove apenas tudo o que é positivo (real ou plausível) sobre o produto de seu cliente. Tipicamente, tudo o que é negativo (real ou plausível) é associado por esse mesmo anunciante apenas ao produto do concorrente de seu cliente. Pode-se chamar isso de “comunicação publicitária”.
No século 20, durante a Guerra Fria, o poder brando dos EUA implicava uma aplicação dessa comunicação publicitária, onde os Estados Unidos e seus apoiadores, públicos e privados, funcionavam como cliente e anunciante. Os Estados Unidos se anunciavam como “democracia” e a URSS como seu oposto negativo ou “ditadura”. Essa comunicação publicitária da Guerra Fria continua hoje em uma forma levemente alterada de “democracia” versus “autoritarismo”. Porém, como acontece com a propaganda, após muitas repetições, sua influência diminui.
Infelizmente para os Estados Unidos, os problemas econômicos que agora afligem seu sistema capitalista — tanto os causados por contradições internas acumuladas quanto os decorrentes de sua posição em declínio na economia mundial — minam diretamente suas projeções de poder brando. Ostentar tarifas e ameaçar repetidamente aumentá-las reflete a necessidade de proteção governamental para empresas baseadas nos EUA cada vez menos competitivas.
As retóricas dos EUA que, em vez disso, culpam estrangeiros por “trapacearem” soam cada vez mais vazias. Deportar milhões de imigrantes sinaliza uma economia que já não é forte e crescente o suficiente para absorvê-los produtivamente (algo que uma vez “tornou a América grande” e mostrou essa grandeza ao mundo). As retóricas americanas denunciando “invasões estrangeiras” de imigrantes encontram crescente ceticismo e até mesmo ridículo dentro e fora dos Estados Unidos.
A enorme desigualdade de riqueza e renda nos Estados Unidos e a exposição global do poder dos bilionários sobre o governo (como Musk sobre Trump, ou CEOs doando milhões para a celebração de posse de Trump) substituem percepções dos Estados Unidos como um país excepcional por sua vasta classe média.
Os níveis recordes de dívida governamental, corporativa e doméstica, juntamente com sinais abundantes de que esse endividamento está piorando, não ajudam a projetar os Estados Unidos como um modelo econômico. A experiência de 2024 com uma estratégia dominante dos EUA que nega problemas sociais enquanto enfatiza retoricamente os perigos de forças estrangeiras malignas sugere que essa abordagem pode estar se esgotando.
O ano de 2025 pode, então, oferecer condições para um desafio profundo a essa estratégia, correspondendo aos desafios que confrontam a posição global do capitalismo americano.
Richard D. Wolff é professor emérito de economia na Universidade de Massachusetts, Amherst, e professor visitante no Programa de Pós-Graduação em Assuntos Internacionais da New School University, em Nova York.
O programa semanal de Wolff, “Economic Update”, é transmitido por mais de 100 estações de rádio e alcança milhões de pessoas por meio de várias redes de TV e YouTube. Seu livro mais recente, com o Democracy at Work, é “Understanding Capitalism” (2024), que responde a pedidos dos leitores de seus livros anteriores: “Understanding Socialism” e “Understanding Marxism”.
Este artigo foi produzido pelo Economy for All, um projeto do Independent Media Institute.