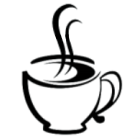Como quebrar o ciclo de violência numa realidade de Estado Único
A resposta devastadora de Israel ao chocante ataque do Hamas em 7 de Outubro produziu uma catástrofe humanitária. Só durante os primeiros 100 dias de guerra, Israel lançou o equivalente em quilotons de três bombas nucleares na Faixa de Gaza, matando cerca de 24 mil palestinos, incluindo mais de 10 mil crianças; ferindo mais dezenas de milhares; destruindo ou danificando 70% das casas de Gaza; e deslocando 1,9 milhões de pessoas – cerca de 85 por cento dos habitantes do território. Nessa altura, cerca de 400 mil habitantes de Gaza corriam o risco de morrer de fome, segundo as Nações Unidas, e as doenças infecciosas estavam a espalhar-se rapidamente. Durante o mesmo período, na Cisjordânia, centenas de palestinos foram mortos por colonos israelitas ou por tropas israelitas, e mais de 3.000 palestinos foram detidos, muitos deles sem acusação.
Quase desde o início, ficou claro que Israel não tinha um fim para a sua guerra em Gaza, o que levou os Estados Unidos a recorrer a uma fórmula familiar. Em 29 de outubro, no momento em que a invasão terrestre de Israel estava em andamento, o presidente dos EUA, Joe Biden , disse: “Tem que haver uma visão para o que vem a seguir. E, na nossa opinião, tem de ser uma solução de dois Estados.” Três semanas mais tarde, após a extraordinária devastação do norte de Gaza, o presidente voltou a dizer: “Não creio que isto acabe até que haja uma solução de dois Estados”. E em 9 de Janeiro, depois de mais de três meses de guerra, o Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, retomou o refrão, dizendo ao governo israelita que uma solução duradoura “só pode surgir através de uma abordagem regional que inclua um caminho para um Estado palestinos.”
Estes apelos à revitalização da solução de dois Estados podem provir de boas intenções. Durante anos, uma solução de dois Estados tem sido o objectivo declarado da diplomacia liderada pelos EUA, e ainda é amplamente vista como o único acordo que poderia satisfazer de forma plausível as aspirações nacionais de dois povos que vivem num único país. O estabelecimento de um Estado palestinos ao lado de Israel é também a principal exigência da maioria dos governos árabes e ocidentais, bem como das Nações Unidas e de outros organismos internacionais. As autoridades norte-americanas recorreram, portanto, à retórica e aos conceitos das décadas anteriores para encontrar alguma fresta de esperança na carnificina. Com os horrores indescritíveis do ataque de 7 de Outubro e da guerra em curso em Gaza a tornar claro que o status quo é insustentável, argumentam que existe agora uma janela para alcançar um acordo mais amplo: Washington pode pressionar tanto os israelitas como os palestinos a finalmente abraçar o objetivo ilusório de dois Estados coexistirem pacificamente lado a lado e, ao mesmo tempo, garantir a normalização entre Israel e o mundo árabe.
Mas a ideia de um Estado palestinos emergir dos escombros de Gaza não tem base na realidade. Muito antes do 7 de Outubro , era claro que os elementos básicos necessários para uma solução de dois Estados já não existiam. Israel elegeu um governo de direita que incluía funcionários que se opunham abertamente a dois estados. A liderança palestina reconhecida pelo Ocidente – a Autoridade palestina (AP) – tornou-se profundamente impopular entre os palestinos. E os colonatos israelitas cresceram a tal ponto que a criação de um Estado palestinos viável e contíguo se tornou quase impossível. Durante quase um quarto de século, também não houve negociações sérias israelo-palestinas, e nenhum eleitorado importante na política israelita apoiou a sua retomada. O ataque chocante do Hamas a Israel e a subsequente obliteração de Gaza, que durou meses, apenas exacerbaram e aceleraram essas tendências.
O principal efeito de falar novamente sobre dois Estados é mascarar a realidade de um Estado único que quase certamente se tornará ainda mais arraigada no rescaldo da guerra. Seria bom se os Israelitas e os palestinos pudessem negociar uma divisão pacífica de terras e pessoas em dois Estados soberanos. Mas eles não podem. Em repetidas declarações públicas em Janeiro, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, deixou claro não só que se opõe a um Estado palestinos, mas também que continuará a haver, como ele disse, “total controle de segurança israelita sobre todo o território a oeste da Jordânia”. [Rio]” – terras que incluiriam Jerusalém Oriental, a Cisjordânia e Gaza. Por outras palavras, parece provável que Israel continue a governar milhões de não-cidadãos palestinos através de uma estrutura de governação semelhante ao apartheid, na qual a esses palestinos são negados direitos plenos para sempre.
Os políticos de Israel suportam a maior parte da responsabilidade por esta dura realidade à medida que se desenvolveu ao longo de décadas, ajudados por líderes palestinos fracos e governos árabes indiferentes. Mas nenhum partido externo partilha mais culpa do que os Estados Unidos , que permitiram e defenderam o governo mais direitista da história de Israel. A administração Biden não pode criar a paz apenas apelando a ela. Mas poderia reconhecer que a sua retórica sobre um futuro de dois Estados falhou e mudar para uma abordagem centrada em lidar com a situação tal como ela é. Isto implicaria garantir que Israel aderisse ao direito internacional e às normas liberais para todas as pessoas nos territórios sob o seu controlo, defendendo a promessa de Biden de promover “medidas iguais de liberdade, justiça, segurança e prosperidade tanto para israelitas como para palestinos”. Uma tal abordagem, que alinharia mais a política dos EUA com as suas aspirações declaradas, teria muito mais probabilidades de proteger e servir tanto os israelitas como os palestinos – e apoiar os interesses globais dos EUA.
OS FABRICANTES DO MAYHEM
O horrível ataque do Hamas em 7 de Outubro foi por vezes descrito como uma “invasão” na qual militantes violaram a “fronteira” entre Israel e Gaza. Mas não existe fronteira entre o território e Israel, tal como não existe fronteira entre Israel e a Cisjordânia. As fronteiras demarcam linhas de soberania entre Estados – e os palestinos não têm um Estado.
A Faixa de Gaza ficou sob controle egípcio durante a guerra de 1948, quando o Estado de Israel foi estabelecido. Em 1967, Israel conquistou Gaza, juntamente com a Cisjordânia, a Península do Sinai e as Colinas de Golã. Ao longo dos 26 anos seguintes, Israel governou directamente a pequena e densamente povoada faixa, introduzindo colonatos judaicos tal como fez nos outros territórios que capturou. Em 1993, na sequência dos acordos de Oslo, Israel entregou alguma gestão diária de Gaza à AP, mas manteve o domínio efectivo com uma presença militar permanente, controlo sobre o seu perímetro terrestre e espaço aéreo, e supervisão das suas finanças e receitas fiscais.
A retirada de Israel de Gaza em 2005 não alterou a realidade da ocupação.
Em 2005, o primeiro-ministro israelita, Ariel Sharon, decidiu retirar-se unilateralmente de Gaza e desmantelar os colonatos israelitas ali. Mas isso não mudou as realidades fundamentais da ocupação. Embora os palestinos tenham sido deixados a determinar a governação interna da faixa, Israel manteve o poder absoluto sobre as fronteiras, costas e espaço aéreo partilhados, com o Egipto a policiar a única fronteira de Gaza ao longo da Península do Sinai, em estreita coordenação com Israel. Como resultado, Israel, com a ajuda egípcia, controlou tudo o que entrava ou saía de Gaza – alimentos, materiais de construção, medicamentos, pessoas.
Depois de o Hamas ter vencido as eleições em Gaza em 2006 e ter consolidado o poder no país em 2007, o governo israelita considerou útil que a organização islâmica policiasse a faixa indefinidamente, deixando assim os palestinos com uma liderança dividida e neutralizando a pressão internacional sobre Israel para negociar. Entretanto, Israel impôs um bloqueio ao território, isolando-o efetivamente do resto do mundo. O Hamas, por sua vez, expandiu significativamente o sistema de túneis subterrâneos que herdou de Israel para contornar o bloqueio, reforçar o seu domínio sobre a economia e a política de Gaza e desenvolver as suas capacidades militares. Erupções episódicas de conflito – geralmente envolvendo barragens de foguetes do Hamas seguidas de ataques retaliatórios de Israel – permitiram ao Hamas demonstrar as suas credenciais de resistência e a Israel mostrar que estava a “cortar a relva”, degradando as capacidades militares e infra-estruturas do Hamas e muitas vezes matando centenas de civis. sem desafiar o controle interno da organização. A população jovem de Gaza sofreu com o bloqueio e a violência intermitente, mas o Hamas manteve o poder.
Nos anos que antecederam o 7 de Outubro, este status quo em Gaza – e a administração paralela da Cisjordânia por uma AP enfraquecida – parecia deplorável, mas sustentável para muitos observadores, tanto na região como no Ocidente. Assim, a administração Biden poderia simplesmente deixar de lado a questão palestina no seu esforço para a normalização entre Israel e a Arábia Saudita; Os políticos israelitas poderiam discutir sobre as reformas judiciais antidemocráticas e a tomada de poder por Netanyahu, mesmo quando um movimento sustentado de protesto israelita ignorou em grande parte a anexação progressiva da Cisjordânia pelo governo. O choque e a indignação provocados pelo ataque brutal do Hamas e pela retaliação extraordinária de Israel destruíram essa ilusão, deixando claro que ignorar uma situação comprovadamente injusta não só era insustentável como também altamente perigoso e que a ordem regional não poderia ser refeita sem reconhecer a situação difícil dos palestinos.
NEM DOIS ESTADOS NEM UM
À medida que a guerra em Gaza se desenrolava, muitos israelitas argumentaram que não pode haver regresso ao status quo, o que significa que não há cessar-fogo sem a “destruição” total do Hamas. Mas as alternativas ao governo do Hamas que os líderes israelitas propuseram são, em grande medida, uma continuação da situação existente. Israel não está a conquistar Gaza subitamente: nunca deixou de a controlar, uma realidade que está demasiado presente para os habitantes de Gaza que sofreram durante 17 anos sob o bloqueio israelita. É mais correcto dizer que Israel, que tem sido a potência soberana de ocupação em Gaza durante 56 anos sob uma variedade de configurações políticas, está mais uma vez a tentar reescrever as regras da sua dominação. E como o governo israelita deixou claro, não tem intenção de prosseguir uma busca renovada por um Estado palestinos.
Os israelitas tinham azedado relativamente a uma solução de dois Estados muito antes do 7 de Outubro. Ao longo da última década, o campo da paz israelita, representado pelo Partido Meretz, tinha declinado eleitoralmente até ao ponto de quase ser eliminado; em 2022, não conseguiu ultrapassar o limiar eleitoral para representação no Knesset. O atual governo israelita praticamente rejeitou um resultado de dois Estados e incluiu membros da direita que aspiravam abertamente à anexação total de Gaza e da Cisjordânia. O dia 7 de outubro acelerou a tendência. O público israelita perdeu esmagadoramente a pouca fé que restava num resultado de dois Estados, à medida que um movimento de colonos com a intenção de dominar todas as terras entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo subiu implacavelmente ao poder.
Alguns argumentariam que esses colonos exercem tal influência apenas porque Netanyahu depende deles para permanecer no poder. Mas o problema é muito maior. A maioria dos israelitas de hoje também não está interessada numa solução de dois Estados ou numa solução de um Estado baseada na igualdade para todos os residentes no território sob controlo israelita; muitos também sentem que o ataque de 7 de Outubro confirmou os seus piores receios em relação aos palestinos. Quer seja reconhecida ou não, a rejeição tanto de um resultado de dois Estados como de um Estado único baseado na igualdade para todos deixa duas possibilidades: o fortalecimento adicional da supremacia judaica e controlos semelhantes aos do apartheid sobre uma população não-judaica que em breve ultrapassará o número de judeus israelitas. , ou a transferência em grande escala de palestinos da terra, como alguns ministros israelenses pediram abertamente.
Do lado palestinos, a estatura da AP, que tem sido fundamental para o pensamento de Washington sobre Gaza do pós-guerra, desmoronou-se. Juntamente com a sua incapacidade de conter as políticas israelitas, é atormentado por percepções de corrupção e pela falta de um mandato eleitoral. Hoje, quase nenhum palestino ainda apoia o presidente da AP, Mahmoud Abbas. (Uma sondagem realizada no final de Novembro, durante o breve cessar-fogo em Gaza, colocou o seu apoio em sete por cento.) Entretanto, a popularidade do Hamas entre os palestinos, especialmente na Cisjordânia, aumentou. Sondagens recentes mostram que ainda há algum apoio a uma solução de dois Estados entre os palestinos, mas praticamente nenhuma confiança na capacidade dos Estados Unidos de a concretizarem.
Esta é a dura realidade política que aqueles que defendem um quadro de negociação de dois Estados irão enfrentar. Nem a liderança nem o público de ambos os lados apoiam tal processo. Os factos no terreno – uma vasta e sempre crescente infra-estrutura rodoviária e de segurança israelita, concebida para ligar e proteger os colonatos judaicos em toda a Cisjordânia, combinada com a destruição quase completa de Gaza – tornam quase inconcebível um Estado palestinos viável. E os Estados Unidos não deram qualquer sinal de que estejam dispostos a exercer o poder necessário para superar esses obstáculos.
Alguns lamentam agora que o 7 de Outubro tenha desferido golpes mortais tanto na solução de dois Estados como na alternativa justa e pacífica de um Estado. Mas nenhum dos dois estava em oferta. O principal efeito da guerra até agora tem sido revelar e aumentar dramaticamente as injustiças de um único Estado baseado na subjugação económica, jurídica e militar de um grupo por outro – uma situação que viola o direito internacional e ofende os valores liberais. Esta é a situação que deve ser enfrentada antes que a questão dos dois Estados possa ser abordada. E é aqui que os Estados Unidos poderiam fazer uma diferença significativa.
CONDIÇÕES CRÍTICAS
Em vez de pressionar por um resultado de dois Estados que quase não tem perspectivas de se materializar, Washington deveria reconhecer a realidade actual e usar a sua influência para impor a adesão às leis e normas internacionais por todas as partes. Os Estados Unidos há muito que evitam impor a Israel esses padrões; a administração Biden foi mais longe, protegendo Israel das próprias leis dos Estados Unidos. (Em Janeiro, uma investigação do The Guardian descobriu que, desde 2020, o Departamento de Estado dos EUA tinha utilizado “mecanismos especiais” para continuar a fornecer armas a Israel, apesar de uma lei dos EUA que proíbe a assistência a unidades militares estrangeiras envolvidas em graves violações dos direitos humanos.) Isso é necessário. mudar. Simplesmente defendendo a ordem internacional liberal baseada em regras, Washington poderia fazer muito para mitigar as injustiças mais sombrias da situação actual. Uma tal abordagem não consistiria em Washington ditar o que os israelitas e os palestinos deveriam fazer. Pelo contrário, trata-se de acabar com a prática anómala de utilizar recursos significativos dos EUA para capacitar comportamentos que os EUA consideram questionáveis e que até entram em conflito com os interesses dos EUA.
Uma abordagem baseada em regras para gerir a situação do pós-guerra em Gaza, na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental necessitaria de envolver vários componentes. Em primeiro lugar, os Estados Unidos deveriam abandonar a sua recusa (pelo menos até ao momento em que este livro foi escrito) de pedir um cessar-fogo e procurar o fim da guerra em Gaza e o regresso dos reféns israelitas o mais rapidamente possível. Um cessar-fogo impediria a matança diária de centenas de palestinos e permitiria a entrada de assistência humanitária no território, evitando a rápida propagação da fome e de doenças infecciosas. Também poria fim ao lançamento de foguetes do Hamas contra Israel, diminuiria as tensões com o Hezbollah na fronteira israelo-libanesa e permitiria que os israelitas deslocados regressassem às suas cidades fronteiriças. E poderá até levar os Houthis do Iémen a pôr fim à sua campanha contra o transporte marítimo do Mar Vermelho, que alargou perigosamente a guerra. (Tanto o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, como os membros dos Houthis disseram em declarações públicas que parariam os ataques no caso de um cessar-fogo, e Nasrallah afirmou que os ataques contra as forças dos EUA no Iraque e na Síria por parte de milícias apoiadas pelo Irão também terminaria.)
Ao não ter apelado a um cessar-fogo durante o outono de 2023 e até 2024, a administração Biden não só permitiu que a guerra se espalhasse perigosamente, mas também encorajou o governo de extrema-direita de Israel a aumentar significativamente a sua repressão e destruição das comunidades palestinas, incluindo em Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Se Biden não for capaz de exigir o fim da guerra num momento em que existe uma unanimidade quase global sobre a necessidade de um cessar-fogo e uma clara maioria dos americanos – cerca de três em cada cinco, de acordo com uma sondagem do final de Dezembro – apoia tal um passo, dificilmente conseguirá posicionar os Estados Unidos para proporcionar uma liderança ousada no chamado dia seguinte.
Mas um cessar-fogo por si só não é suficiente para pôr fim a uma conduta profundamente ilegal. Os excessos da guerra em Gaza foram tão extremos que, para muitos observadores internacionais, deixaram o direito internacional em frangalhos. Um dos resultados foi isolar Washington e minar a sua pretensão de defender as normas internacionais e a ordem internacional liberal. O facto de a África do Sul, um dos líderes do Sul global, ter acusado Israel da acusação extraordinária de genocídio perante o Tribunal Internacional de Justiça sugere até que ponto muitas partes do mundo já não estão em sintonia com Washington e os seus países ocidentais. aliados, minando a liderança dos EUA nas instituições internacionais. Numa decisão preliminar de 26 de Janeiro, o tribunal determinou que algumas alegadas acções israelitas em Gaza constituem plausivelmente violações da Convenção das Nações Unidas sobre Genocídio. Embora o tribunal não tenha exigido um cessar-fogo, ordenou um conjunto abrangente de medidas que Israel deve tomar para limitar os danos aos civis palestinos. Se Washington continuar a apoiar incondicionalmente a Israel em Gaza sem exigir a adesão a essas medidas, poderá parecer ainda mais cúmplice na guerra. É imperativo que os Estados Unidos apoiem a responsabilização internacional por alegados crimes de guerra de todos os lados.
Após um cessar-fogo, os Estados Unidos devem levar a sério a pressão sobre Israel para mudar de rumo. Até agora, os esforços dos decisores políticos dos EUA para delinear um plano pós-guerra para Gaza foram repetidamente rejeitados pelas autoridades israelitas. Israel rejeitou a ideia de devolver a AP a Gaza, que é uma pedra angular da actual estratégia dos EUA. Em vez disso, os políticos israelitas falam abertamente sobre a restauração de colonatos ilegais e a criação de uma zona tampão no norte de Gaza e parecem decididos a expulsar um grande número de palestinos do território – noções que desprezam as linhas vermelhas explícitas dos EUA. Entretanto, o governo de Netanyahu tem ignorado sistematicamente até os pedidos mais anódinos para minimizar a matança de civis, permitir a entrega de ajuda humanitária, planear uma Gaza no pós-guerra e ajudar a reconstruir a AP. A actual estratégia de Israel parece provavelmente terminar na expulsão em massa dos habitantes de Gaza ou numa contra-insurgência perpétua, dispendiosa e violenta. Os Estados Unidos opuseram-se activamente à primeira, em linha com as posições expressas com força pelos seus aliados na Jordânia e no Egipto, e a última só pioraria quanto mais tempo as tropas israelitas permanecessem em Gaza. Mas a administração Biden recusou-se a impor quaisquer consequências para tentar obrigar Israel a aceitar essas exigências.
Para superar a intransigência israelita, os Estados Unidos devem parar de proteger Israel das consequências de graves violações do direito e das normas internacionais nas Nações Unidas e noutras organizações internacionais. Um tal passo por si só poderia iniciar um debate político essencial dentro de Israel e entre os palestinos, o que poderia abrir novas possibilidades. Ao mesmo tempo, a Casa Branca deveria condicionar a ajuda adicional a Israel à adesão à lei dos EUA e às normas internacionais e deveria encorajar esforços semelhantes no Congresso, em vez de se opor a eles. Deveria também instruir as agências governamentais dos EUA a seguirem a lei e as regras internacionais na prestação de assistência a Israel, em vez de procurarem formas criativas de subvertê-las.
Na verdade, a relutância de Biden em vincular a ajuda militar a Israel aos direitos humanos ou mesmo à lei dos EUA já levou a medidas extraordinárias por parte de membros do seu próprio partido. Consideremos a resolução proposta em dezembro pelo senador de Maryland, Chris Van Hollen, um democrata, e 12 de seus colegas para condicionar a ajuda militar suplementar a Israel e à Ucrânia à exigência de que as armas sejam usadas de acordo com a lei dos EUA, o direito humanitário internacional e a lei de conflito armado. Da mesma forma, o senador de Vermont, Bernie Sanders, um independente, propôs uma resolução que tornaria a ajuda militar a Israel dependente de uma revisão do Departamento de Estado dos EUA sobre possíveis violações dos direitos humanos na guerra. Mas, como já foi demonstrado com a derrota da proposta de Sanders em Janeiro, é pouco provável que tais esforços tenham sucesso sem liderança presidencial, especialmente num ano eleitoral em que os Democratas no Congresso estão relutantes em minar as perspectivas eleitorais do seu já impopular presidente. Só a Casa Branca pode liderar com sucesso nesta questão.
REGRAS PARA A REALIDADE
Paradoxalmente, os traumas vividos pelos palestinos e pelos israelitas desde 7 de Outubro demonstraram tanto a necessidade urgente de uma solução de dois Estados como a improbabilidade de estabelecer uma. A Casa Branca ainda poderia tentar, se estivesse disposta a usar a força americana para reabrir o caminho para um Estado palestinos. Mas nada na sua abordagem actual sugere que fará mais do que continuar a defender o objectivo da boca para fora, ao mesmo tempo que permite a terrível realidade.
A dor e o choque da guerra, tanto para os israelitas como para os palestinos, poderão impulsionar reavaliações internas – e novas lideranças – em ambos os lados, numa altura em que nenhum outro resultado positivo está à vista. Talvez Biden consiga reunir os estados árabes para normalizar as relações com Israel, como a Casa Branca tanto deseja, com a condição de que Israel concorde com um processo de dois estados. Mas poucos palestinos, ou outras partes que possam estar envolvidas num tal plano, parecem propensos a confiar na liderança dos EUA, dado o historial da administração durante e antes da guerra. A credibilidade americana no Médio Oriente está no nível mais baixo de todos os tempos.
Nesta conjuntura, qualquer iniciativa de dois Estados teria de produzir resultados concretos e iniciais para ter pelo menos uma hipótese de sucesso. Esses benefícios tangíveis precisariam de ser mais ponderados para os palestinos, dada a extremidade das suas circunstâncias. Por exemplo, Biden poderia reconhecer imediatamente um Estado palestino na Cisjordânia e em Gaza, comprometer-se a não mais defender os assentamentos israelenses nas Nações Unidas e condicionar a ajuda militar a Israel à adesão de Israel ao direito internacional e à abstenção de quaisquer ações que prejudiquem uma Estado Palestino. Os Estados Unidos também poderiam comprometer-se a garantir a segurança israelita dentro das fronteiras acordadas internacionalmente por Israel. Mas é altamente improvável que Israel aceite qualquer um destes termos, e não há nada na história de Biden que sugira que ele seja capaz de aplicar a pressão necessária para os cumprir.
Os defensores de um impulso renovado para uma solução de dois Estados afirmarão que esta é a opção mais realista. Manifestamente não é. Não importa como termine a guerra em Gaza, é improvável que uma solução de dois Estados – ou uma solução equitativa de um Estado, aliás – esteja disponível. Na verdade, não existe um caminho imediato a seguir sem primeiro aceitarmos a realidade mais sombria do Estado único que Israel consolidou. A política dos EUA, portanto, deveria centrar-se não em esforços implausíveis para relançar conversações sobre resultados inatingíveis, mas em definir vigorosamente os padrões legais e de direitos humanos que espera que sejam cumpridos. Washington pode usar o seu poder para se opor a condições e políticas que não apoiará, seja a expulsão dos palestinos de Gaza, a contínua apreensão de terras palestinas na Cisjordânia, ou a continuação e aprofundamento de um sistema de administração militar semelhante ao apartheid. nas áreas palestinas. Esses limites devem ser esclarecidos e devem ser aplicados. Os Estados Unidos deveriam apoiar os mecanismos de justiça internacional e a responsabilização por crimes de guerra por parte de todas as partes. Deveria exigir a adesão às leis e normas internacionais de direitos humanos no tratamento de todas as pessoas sob o controlo efectivo de Israel, sejam ou não cidadãos israelitas. E deve recusar-se a continuar a trabalhar normalmente com qualquer governo que viole estas normas.
Ao estabelecer limites jurídicos concretos para a situação actual, os Estados Unidos recuperariam alguma da credibilidade que perderam no Médio Oriente e no Sul global. Ao alinhar a realidade actual com o direito internacional, Washington poderia começar a criar as condições para que um dia pudesse emergir um cenário político melhor. Chegou a hora de o governo dos EUA assumir a responsabilidade pela abordagem fracassada que levou a esta guerra devastadora. Décadas isentando Israel dos padrões internacionais, ao mesmo tempo que prosseguia com conversas vazias e desdentadas sobre um futuro inatingível de dois Estados, minaram gravemente a posição dos Estados Unidos no mundo. Washington deveria parar de usar o seu poder para permitir violações flagrantes dos direitos e normas internacionais. Até que isso aconteça, continuará a existir um status quo profundamente injusto e iliberal, e os Estados Unidos perpetuarão o problema em vez de o resolverem.
Por Marc Lynch e Shibley Telhami, para a Foreign Affairs.
Março/abril de 2024
publicado em 20 de fevereiro de 2024
MARC LYNCH é professor de Ciência Política e Assuntos Internacionais na Universidade George Washington.
SHIBLEY TELHAMI é Professor Anwar Sadar para Paz e Desenvolvimento na Universidade de Maryland e membro sênior não residente na Brookings Institution.