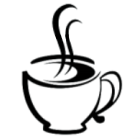Por Rogerio Dultra dos Santos
Uma evocação eclodiu imediatamente na minha cabeça ao terminar de assistir a Poor Things, o último e muito bem realizado filme do cineasta grego Yorgos Lanthimos: as peripécias de Lucrécia, personagem da primeira peça moderna de teatro, a obra-prima A Mandrágora, de Niccoló Machiavelli.
Já aviso aqui que este texto tem spoilers. E sem necessariamente precisar adiantar o argumento, quem viu o filme notará semelhanças com a rápida estória descrita abaixo.
A jornada da heroína Lucrécia é uma representação fidedigna do projeto político da modernidade. Um de seus aspectos mais marcantes é a virada final que transforma o outrora simples objeto de desejo e uso de todos os demais personagens em senhora de seu próprio destino e prazer.
Lucrécia termina o seu arco dramático vivendo no mesmo teto com o seu velho e rico marido, Messer Nícia, que a sustenta no luxo e com o seu jovem e sensual amante Calímaco, o verdadeiro pai de seu filho, travestido de médico da família.
Sem confrontar as convenções sociais diretamente para além de seu espaço e de seus interesses privados, Lucrécia subjuga o poder interesseiro de sua mãe Sóstrata e de seu pároco corrupto, o Frei Timóteo, para receber a bênção divina de sua situação, comprada a peso de ouro. Ao fazê-lo, paradoxalmente enfrenta e expõe a moralidade tradicional, implodindo os seus arranjos e abrindo espaço para a sua desaprovação.
Se A Mandrágora foi sempre interpretada como uma crítica social e política ao establishment da época e igualmente um ataque mordaz à corrupção da Igreja Católica, me chamou também a atenção a constituição desse projeto individualista de Lucrécia.
Ele destoa em parte do republicanismo da obra política de Machiavelli por tematizar de forma crítica as normas sociais do ponto de vista de indivíduos e não da coletividade, como faz em seus Discorsi.
Ante às críticas efusivas e elogiosas ao filme de Lanthimos e à imediata referência ao Frankenstein de Mary Shelley, fui ao cinema aguardando a apresentação da inusitada história de “empoderamento” feminino, vendida pelos cinéfilos profissionais como uma crítica feminista ainda mais radical que outro filme oscarizável do ano, a Barbie, de Greta Gerwig.
A saga de emancipação dos grilhões da violência machista faz da personagem Bella Baxter (Emma Stone) não propriamente a “Criatura” do Doutor Frankenstein, embora a referência seja mais que óbvia.
No livro de Mary Shelley, a Criatura representa um arquétipo dos males e dos perigos da ciência, um outro de seu criador. Já no filme Poor Things, todo o “mal” é realizado pelo traumatizado cientista Godwin Baxter (Willem Defoe) e pelos personagens masculinos que passam pela trajetória de descobrimento e liberdade de Bella.
O arco dramático da personagem principal não é, portanto, o de um sofrimento atroz de uma criatura deslocada no mundo, solitária e embrutecida pela violência, mas sim o da formação de um personalidade que quer sorver os benefícios do auto-conhecimento e de estar no mundo resistindo heroicamente às imposições sociais que se lhe aparecem.
As violências que são cometidas ou tentadas contra Bella, ao invés de brutalizá-la e levá-la ao desespero e à auto-destruição, consolidam paulatinamente sua convicção de que a liberdade e a autonomia devem orientar a sua vida.
Daí ser a estória de Bella muito mais próxima da primeira heroína moderna, que é a Lucrécia. Com uma diferença importante.
A Lucrécia de Machiavelli se apresenta como um espelho das hipocrisias da sociedade sua contemporânea, servindo de veículo para a crítica das velhas imposições e para a construção de um novo modelo de moralidade.
Na peça renascentista, as convenções e as instituições são postas abaixo em nome da liberdade. É uma liberdade ainda republicana na medida em que o ato de libertação implica necessariamente a negação do instituído, como é o caso das normas da moralidade cristã.
Já no filme, a libertação de Bella transige com a manutenção das desigualdades, em relação às quais lamenta, mas rapidamente desiste de enfrentar, apesar de se reconhecer como “socialista” depois que sua amiga e amante prostituída lhe diz que socialista é “uma pessoa que quer mudar o mundo para melhor”.
Seu vislumbre aterrorizado ante o mundo real da pessoas nas favelas, guiado pelo cinismo niilista de seu novo amigo Harry Astley (Jerrod Carmichael) é o suficiente para sensibilizá-la a ponto de entregar o dinheiro de seu amante machista Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo) para que marinheiros supostamente ajudem o povo, sem no entanto descer ao inferno dantesco da morte e da pobreza para garantir que a ajuda seja concretizada.
A Lucrécia da peça de Machiavelli não quer mudar o mundo, mas o implode por sua simples existência, representada pela realidade de sua vontade iconoclasta.
O mundo velho e corrompido da moralidade cristã é soterrado pelo exemplo real de uma vida sem as hipocrisias usuais, geradoras da infelicidade e frustração.
Lucrécia recompõe seu arranjo familiar mantendo as aparências, mas vivendo de fato de acordo com seus desejos. Esta oposição é sentida pela audiência como uma profunda e radical crítica social.
Já no filme Poor Things, não há esse arroubo revolucionário da peça, embora ele tenha sido festejado por alguns como feminista e até radical.
Nesta obra há um sentimento iluminista em Bella que é estimulado pela leitura do poeta conservador Ralph Waldo Emerson, quando diz “Se eu conheço o mundo, posso transformá-lo” ou, da mesma forma, em Goethe “O homem conhece a si mesmo apenas na medida em que conhece o mundo… Cada novo objeto verdadeiramente reconhecido abre um novo órgão dentro de nós mesmos”.
O cerne “filosófico” da trama de Poor Things é o que Rousseau chama de perfectibilidade, essa capacidade de aperfeiçoamento pessoal na interação com as coisas do mundo.
Entretanto, diferentemente do genebrino, que via o movimento de aculturação da humanidade como um fator de aprofundamento das desigualdades materiais, da escravidão e da miséria, no filme, o avanço extraordinário das habilidades mentais e sociais de Bella são tidos como positivos, na direção de sua autonomia intelectual, independência financeira e liberdade sexual, contra o machismo, mas não contra a estrutura político e econômica dominante, como na Lucrécia d’A Mandrágora.
Ao fim e ao cabo, Bella retorna ao pai moribundo, para assumir não o papel de algoz da Criatura de Frankenstein, mas o de substituta de Deus. Herda de bom grado as posses do Dr. God, como o chama, e apropria-se de sua profissão, a medicina.
Além disso, incorpora Toinette (Suzy Bemba), sua amante socialista, à nova família, composta pelo aprendiz de Deus, seu esposo Max MacCandles (Ramy Youssef), sua “irmã-criatura” Felicity (Margaret Qualley) e assume a chefia de uma estrutura tipicamente burguesa, mantendo os serviços da governanta Mrs. Prim (Vicki Pepperdine) e o seu antigo marido violento e abusador Alfie Blessington (Christopher Abbot), transformado em cabra. É um filme feminista? É.
Mas não de um feminismo revolucionário e radical, mas sim de um feminismo burguês e liberal, que apenas arranha o que se chama hoje de machismo estrutural, sem implodir as suas bases capitalistas e de opressão classista.