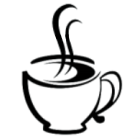Enquanto a grande mídia brasileira se encontra interditada com a defesa sem questionamentos do arrocho fiscal e do teto de gastos, economistas do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial vem propondo um conjunto de novas ideias, ou um novo “consenso de Washington”, que já vem sendo postas em prática em países desenvolvidos há algum tempo, e que agora, com a pandemia, se tornaram ainda mais prestigiadas.
A nova filosofia econômica é exatamente o oposto aos dogmas defendidos nos anos 1980 e 1990, quando o Brasil adotou as severas práticas neoliberais ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), e as quais os governos petistas de Lula e Dilma Rousseff deram continuidade.
Naquela época, o consenso de Washington pregava com radicalidade que os déficits eram ruins para o crescimento – por isso a defesa exacerbada do arrocho fiscal -, que os trabalhadores deveriam pagar por serviços básicos como saúde, que o Estado deveria se manter o mais distante possível dos negócios e do planejamento econômico. Foram os tempos do “Estado mínimo”.
No Brasil, isso se refletiu no sucateamento do SUS, na manutenção de juros estratosféricos, no congelamento dos investimentos públicos, e na ausência de um projeto estratégico orientado para o desenvolvimento de novas tecnologias.
O teto de gastos, aprovado no governo Michel Temer e levado a risca pela “gestão” Bolsonaro, veio para piorar nossa situação.
Os desafios gerados pela pandemia, contudo, estão varrendo velhos dogmas. Na Inglaterra, o governo decidiu criar um banco inteiramente estatal para financiar obras públicas e gerar empregos. Nos Estados Unidos, o novo governo Biden deu início a um grande pacote de investimentos públicos, com ênfase na geração de empregos e na modernização da economia.
Há um esforço concentrado das economias avançadas para financiar a produção e distribuição de vacinas. Na última publicação do seu Fiscal Monitor, o FMI estima que controlar a pandemia no mundo pode render “mais de US $ 1 trilhão em receitas fiscais adicionais às economias avançadas, até 2025”.
FMI e Banco Mundial agora defendem o investimento maciço em educação, para recuperar o tempo perdido com as escolas fechadas na pandemia, e para ajustar os trabalhadores às mudanças radicais no mundo do trabalho. Isso exigirá a presença maciça do Estado, defendem agora os economistas ligados a essas instituições financeiras.
Nos EUA, epicentro do capitalismo mundial, temos o exemplo mais fiel no que diz respeito ao novo consenso de Washington. Recentemente, o presidente Joe Biden (Democratas) anunciou um pacote de investimentos públicos da ordem de US$1,9 trilhão. A medida foi elogiada pelo FMI.
Com a iniciativa, que supera em magnitude o New Deal de Roosevelt, Biden e diversos analistas esperam que o país consiga elevar sua renda nacional a um patamar maior que o previsto antes da pandemia.
A medida também deixa um recado importante: se o governo de um país reduzir investimentos, a nação estará suscetível a consequências que vão reduzir o potencial produtivo no longo prazo. Em outras palavras, o país estará condenando a a si mesmo ao atraso.
Apesar da defesa de investimentos públicos, o FMI continua louvando a prudência, mas desta vez com outra pegada. Nas reuniões da cúpula do fundo com a do Banco Mundial, falou-se em “contribuições de recuperação” o que nada mais é do que sobretaxas temporárias de cidadãos ricos e nos lucros corporativos.
O mote dessas contribuições é a crescente preocupação com a desigualdade e o abismo social causado por esse fenômeno. Nesta sua nova fase, o FMI destaca o desafio de “administrar ritmos divergentes de recuperação” entre países e entre grupos regionais após a pandemia, e como ajustar o “novo normal” ao processo de recuperação econômica.
No caso do Brasil, o grande desafio será vencer as resistências retrógradas do pensamento econômico nacional, hoje ancorado em ideias que se tornaram obsoletas nas mesmas escolas e centros que esse pensamento sempre usou como referência.
A solidão do neoliberal brasileiro nunca foi tão completa.