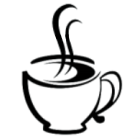o Royal Liverpool Hospital, reformado pela falida “Carillion” deveria ter aberto em março de 2017. “É pouco provável que abra este ano”, diz a BBC. A Carillion também mantém 50 prisões
Foto: BBC
Enquanto na Europa, o neoliberalismo expõe as suas víceras, no Brasil ele é implementado na marra
Nestes tempos de luta política intensa, da necessidade de salvar o símbolo, o homem, a gente tende a deixar de lado o porquê da luta.
A luta por Lula e o que ele significa é imprescindível.
Mas na premência de salvá-lo, corremos o risco de deixar passar a proposta teórica, rejeitada pela população brasileira, que está sendo implementada na marra.
Portanto, é importante observar o que acontece em outras partes do mundo.
O Reino Unido é um dos precursores na implementação do neoliberalismo.
Dada as condições específicas do sistema político britânico, o partido governante detém todo o poder de fazer o que quiser com o Estado (com grande aparelhamento – o que, para os nossos ilustres Deuses do judiciário, significaria corrupção).
Isso pode ser positivo ou negativo, dependendo do nosso ponto de vista ideológico (mas não é um crime).
O fato é que, por causa deste sistema, nas últimas décadas do século XX as ideias neoliberais, como o estado mínimo e a supremacia do mercado, puderam avançar sem qualquer obstáculo.
E o país virou um palco de experiências e experimentos baseados em teorias nunca antes aplicadas, mas que, mesmo sem resultados concretos foram – e continuam sendo – exportadas mundo a fora.
Hoje, 40 anos depois da chegada do neoliberalismo pelas mãos de Margaret Thatcher, todas as partes do sistema público britânico estão em crise.
Fora os problemas mais gritantes como o Brexit (resultado da não inclusão dos excluídos), a crescente desigualdade, a falta de produtividade da mão de obra, a dependência do país nas importações e o trabalho precário, a população reivindica a re-nacionalização de vários setores e indústrias e, a iniciativa privada, prestadora de serviços públicos – antes aclamada como panaceia – está em apuros.
Cheguei na Inglaterra pela primeira vez em 1979, junto com a Margaret Thatcher.
Criança ainda, me lembro bem de estar num hotel com meus pais e ver, pela televisão, a queda de Callaghan e a entrada da chamada Dama de Ferro.
Na época, não sabia o impacto que isso teria, mas Margaret Thatcher marcou a minha vida.
Não estava presente durante o “Winter of Discontent”*, o evento que aparentemente pôs boa parte da população britânica contra os sindicatos, abrindo espaço para a aceitação do neoliberalismo.
Como disse, cheguei em março, junto com Thatcher, não vi o malfadado final do consenso socialdemocrata.
Com ela cresci.
Vi as guerras das Malvinas; as greves dos mineiros; as privatizações da mineração, do aço, das telecomunicações e da aviação; as rebeliões em Brixton, Toxteth e Handsworth e, finalmente, os protestos contra o chamado ‘poll tax’ (IPTU britânico), que a derrubaram.
Vi a total destruição do sistema industrial e a destituição social de seus trabalhadores, mineiros, fabris, servidores públicos e o ‘fim’ da classe trabalhadora.
A mão de obra das ex-colônias que reconstruiu a grandeza da Metrópole pós-guerra, e que veio em massa para criar e consolidar o Estado de bem-estar social Britânico, de repente, não tinha mais razão de ser.
O racismo aflorou, como sempre aflora em tempos de crise.
Antes dos mulçumanos, dos imigrantes europeus e refugiados, o ‘problema’ era negro.
Depois, veio a aceitação.
Thatcher prometeu o sonho da classe média para todos: a casa própria.
Mas o sonho veio às custas da destruição do Estado social.
O setor público, que passou 40 anos construindo moradias, tirando populações inteiras de cortiços e escombros, foi forçado a vender seus imóveis, seus mais valiosos bens.
E foi proibido de construir mais casas.
Money, Money, Money – ‘Loadsa Money’ era o moto dos anos 80 – Madonna e seu Material Girl.
O império financiero da City se consolidou e a potência industrial se transformou em provedora de serviços e conhecimento.
Margaret Thatcher ganhou sua implacável luta contra o trabalho organizado.
Mas a revolução não parou com ela.
Tinha coisas que nem ela tinha a coragem de mudar.
O “welfare state” era sagrado: educação, saúde, assistência social para todos.
Então John Major, seu sucessor, resolveu atacar o sistema de dentro para fora.
Veio a invenção dos ‘mercados internos’ e a introdução do setor privado para administrar o serviço público e as PFIs – Iniciativas de Financiamento Privado.
Frederick Hayek com seu mercado e estado mínimo e os teóricos da escolha pública que exaltavam o egoísmo, a racionalidade, o lucro e o setor privado, se tornaram reis (e, aparentemente, os consumidores também).
O Reino Unido se transformou em “Britain Plc” e seus cidadãos, em consumidores, objeto de minha tese de mestrado.
No começo dos anos 90, eu trabalhava no NHS, o serviço nacional de saúde, que passava por grandes transformações.
Ainda antes de meus estudos, apesar do mantra, apesar de anos de Thatcherismo, não conseguia entender o porque do privado ser sempre melhor que o público.
Vi de primeira mão a formação do ‘mercado interno’: a saúde foi dividida entre ‘provedores’ e ‘tomadores’ de serviços.
Isso não era simples terminologia. Implicava em certas organizações, como hospitais e médicos, venderem os seus serviços que uma entidade central comprava, dinheiro passando de uma parte do NHS para a outra, através de contratos.
Contratos, envolviam a contratação de gerentes para administrar a nova camada administrativa e financeira do sistema.
A ideia era que a introdução do lucro traria maior eficiência.
Mas em vez de eficiente, o sistema se tornou mais pesado, mais complexo.
De dentro para fora, não conseguia entender o porque de se gastar tanto dinheiro em trocas hipotéticas.
Apesar dos cortes, privatizações e outras inovações do mercado, nem Thatcher e nem Major conseguiram diminuir o tamanho do Estado – a lógica por trás de todas estas ações.
Enquanto isso, aclamavam as privatizações como modelo de eficiência, sem tentar compreender a complexidade dos eventos.
Afinal as inovações tecnológicas ocorreram ao mesmo tempo que as privatizações.
Quem pode dizer se a aparente maior ‘eficiência’ da privatizada BT (empresa de telecomunicações) tinha a ver com as teorias da escolha pública ou com as inovações em informática que começaram a emergir na época? Ou simplesmente porque qualquer mudança leva a melhorias, pelo menos temporariamente?
O fato é que o mercado interno não funcionou.
Em 1989, o muro cai e aclamam o ‘fim da história’. A morte da ideologia.
Sai Major. Entra Blair.
Social democracia e socialismo são substituídos pela justiça social e igualdade de oportunidades.
A palavra ‘classe’ é enterrada pela retórica da sociedade sem classes. Separam as lutas identitárias das questões socioeconômicas.
A terceira via sinalizou o reconhecimento da morte de qualquer teoria socialista. O que importava agora era a eficiência – cientificamente comprovada – e não mais, direita ou esquerda; Estado ou iniciativa privada.
Mas os quase 20 anos de governo conservador deixou os serviços públicos britânicos arrasados.
Blair precisava investir. De onde viria o dinheiro?
E Blair, apesar de seus inúmeros erros (alguns imensos, como a guerra do Iraque), investiu no sistema público, construiu e transformou hospitais e escolas, melhorou a qualidade do setor público e a pobreza caiu (mas não a desigualdade).
Acontece que Blair fez isso através da iniciativa privada. Nos 13 anos de governo trabalhista foram 620 contratos de PFI, a maioria para a construção de escolas, hospitais e prisões.
Os contratos viabilizavam os lucros de umas poucas empresas que agora detêm não só o monopólio dos contratos, mas também alguns serviços públicos essenciais, que não podem falhar.
A ideia era que o setor privado poderia construir o projeto e parte do pagamento viria da administração destes bens por um número de anos. Assim, o governo não teria que desembolsar imediatamente pelo custo da construção.
Os lucros embutidos nestes contratos foram imensos. O NAO (Serviço de Auditoria Britânico) calcula que as reformas de escolas custaram 40% mais caras do que se tivessem sido feitas pelo setor público, e os hospitais 70% mais caros.
De acordo com The Guardian, o hospital universitário de Norfolk and Norwich, cuja construção custou £229 milhões, e implicou na administração do hospital pela empresa até 2037, prevê à empresa privada £1 bilhão (aproximadamente 5 vezes o custo da construção).
A necessidade do pagamento destes investimentos (mais juros) está avolumando dívidas, chegando a causar cortes de serviços e até o fechamento de hospitais.
Já faz anos que os próprios proponentes do empreendedorismo privado, em universidades como a LSE, sabem que este tipo de empreendimento não é o mais barato.
E nem sequer o melhor, causando uma série de outros problemas à sociedade, como a cascata de tercerizações, sem qualquer tipo de responsabilização social pelos trabalhadores na ponta final deste processo, que não recebem nenhum tipo de proteção formal.
Hoje em dia, buscam-se alternativas para o financiamento público e fala-se do retorno à emissão de títulos (especialmente considerando as baixas taxas de juros no país) ou a criação de um banco nacional de investimento e desenvolvimento (tipo BNDES, que neoliberais brasileiros adorariam ver extinto).
Para além de todos estes problemas, agora descobrem, que algumas destas empresas estão quebrando.
Oito anos de governo conservador implicaram em oito anos de austeridade e cortes no financiamento dos serviços públicos, mesmo aqueles que ainda precisam ser pagos através de contratos feitos anos atrás.
E o setor privado parece não ser mais eficiente que o setor público.
Carillion, responsável por hospitais, a construção de estradas e da controversa linha de ferro HS2, já faliu, deixando muitos governos locais em situações difíceis.
Mesmo com seus próprios orçamentos estourados, agora vão ter que lidar com as consequências destas quebras, porque, afinal de contas, os serviços são públicos e a responsabilidade final é do governo.
Capita, outra empresa prestadora de serviços públicos, também advertiu que sua situação financeira não é boa.
Durante as Olimpíadas de 2012, o exército teve que fazer a segurança porque a firma contratada, a G4S, outra grande prestadora de serviços na época, não conseguiu proporcionar a quantidade de funcionários qualificados.
£10 bilhões foram pagos a uma outra prestadora para atualização de serviços informáticos que nunca se materializaram.
Sem contar as várias histórias de superfaturamento, ou de insatisfação com os serviços privatizados como água, luz e ferrovias (ironicamente prestados por empresas nacionais de outros países como a francesa EDF).
E pensar que o Golpe brasileiro foi dado para forçar mudanças que, com cada ano que passa, se mostram cada vez mais equívocas e baseadas em ideologias falsas.
Talvez mais irônico é o fato de que, no intuito de acabar com a mão grande “planejadora e reguladora do Estado”, se planejou um golpe para que aquele ente, não-identificável, que tudo sabe e tudo equilibra, o Mercado, fosse rei.
*O “Winter of Discontent” é uma frase emprestada de Shakespeare que deu o nome ao inverno de 1978-79, quando o setor público fez uma greve geral e o país parou: O lixo ficou sem recolher, e os mortos sem enterrar. É tido como o exemplo da “força” e falta de responsabilidade dos sindicatos da época.