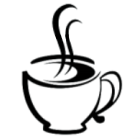São tempos de autoritarismo. Mas também são tempos de emergência de novos movimentos, novas expressões das lutas sociais.
Nessa entrevista conduzida pelo IHU On-Line a socióloga Alana Moraes dá pistas de alguns caminhos a serem seguidos por uma necessária nova esquerda brasileira.
Alana Moraes é graduada em Antropologia pela UFRJ, mestra em Sociologia e Antropologia pela mesma universidade, e atualmente cursa doutorado no Programa em Antropologia Social do Museu Nacional da UFRJ.
Confira a entrevista.
IHU On-Line – Como você está avaliando o atual cenário político do ponto de vista das mobilizações sociais? O que tem sido significativo desse ponto de vista?
Alana Moraes – É interessante porque o Brasil hoje vê desmoronar todo o arranjo institucional democrático representado pela Constituição de 1988, ao mesmo tempo em que a esquerda partidária e organizada também entra em uma crise profunda. Parece que agora vivemos em uma cidade de escombros, nada é muito reconhecível do ponto de vista das estruturas, mas alguns ainda acham que é possível reformar os edifícios, emendar os encanamentos, fiações. Eu sou daquelas que acham que temos que resgatar as coisas mais importantes, claro, mas é preciso não se ocupar muito com os escombros. Temos que construir uma nova cidade, viva, cheia de praças, para que a gente possa se encontrar e decidir juntos o que vai ser nosso projeto de emancipação.
Tenho pensado muito numa frase do Marx em que ele diz que “A situação desesperada da sociedade em que vivemos me enche de esperança”. Penso que podemos e temos o dever de resgatar essa esperança. A esquerda hoje se tornou um lugar de muita melancolia: produzimos essa fixação com “Bolsonaros”, com nossas derrotas, mas precisamos de afetos mais potentes para continuar caminhando, pensando novas possibilidades, criando brechas. Por isso é importante estar conectado com as lutas que surgem hoje. A melancolia também é um efeito do neoliberalismo que nos paralisa, nos deixa doentes.
Respostas à crise
Muitos respondem a essa crise das esquerdas clamando por fórmulas que simplificam a questão: “unidade das esquerdas”, ou “primeiramente fora Temer”, “pacto pela estabilidade democrática”. É óbvio que a luta agora tem que ser no sentido de continuar denunciando o golpe e exigir o afastamento do governo ilegítimo, mas no fundo sabemos que o buraco é bem mais profundo. Temos um Estado racista que mata, encarcera, distribui desejo de punição. O Rafael Braga está preso porque carregava um Pinho Sol. Temos que nos perguntar o que é ser de esquerda no Brasil hoje. É nos mobilizarmos para ter um candidato “viável” para 2018? É nos afetarmos com a prisão dos muitos “Rafaéis Bragas”, com os massacres contra camponeses, indígenas, contra os pobres na periferia, contra as mulheres, que acontecem cotidianamente neste país? Construir redes mais eficazes contra a violência estatal? Esse é o momento de perseguirmos essas questões mais de fundo, de nos definirmos mesmo, em comum.
Antes de “unidade das esquerdas”, sinto falta de pensarmos que esquerda somos e o que realmente queremos ser depois dessa experiência do ciclo petista. 2018 será uma consequência feliz ou infeliz do que conseguimos juntos produzir de respostas. Acho que precisamos abandonar a ilusão de que um novo programa de esquerda nascerá de uma ou duas reuniões com intelectuais ou dirigentes partidários. Penso que um programa, um plano de ação em comum, podem dar mais certo na medida em que conseguem produzir encontros, implicar pessoas vindas de lugares diferentes em práticas concretas.
IHU On-Line – Alguns têm defendido – e até criticado – que o PT vem reconquistando sua hegemonia, inclusive de mobilização entre os setores de esquerda. Na sua avaliação, isso está acontecendo? Por quê?
Alana Moraes – Acho que nem o PT acredita mais nessa hegemonia. Mas toda a dificuldade de mobilização que temos hoje, e o PT sabe bem disso, é fruto de uma escolha política do PT e de muitos outros setores ligados ao partido que foram completamente enfeitiçados pela disputa eleitoral, pelos jogos que estavam colocados para que o PT pudesse permanecer no poder, pelos pequenos poderes dos gabinetes.
Esse não é só um problema do PT, é um problema da esquerda internacional. As apostas da social-democracia europeia hoje foram completamente absorvidas pelo sistema. A vida no neoliberalismo é insuportável. Nunca antes as pessoas estiveram tão medicalizadas e deprimidas, se sentem impotentes, não decidem nada das escolhas políticas que realmente afetam suas vidas. Óbvio que querem agora soluções mais radicais, que possam, de alguma forma, chacoalhar o sistema político. Não tem mágica aí: hoje os movimentos que mais mobilizam no Brasil, como o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto – MTST, conseguem fazer isso porque têm conexão com a prática, com o cotidiano das pessoas. O PT escolheu o caminho do Estado, da gestão e, é claro, muitas conquistas importantes surgem daí: a expansão das universidades, valorização do salário mínimo. Mas a experiência do PT no governo nos serve também para pensar sobre os limites de ocupar um Estado sem fazer da luta contra ele, contra essa forma atual de governamentalidade neoliberal que é uma camisa de força, uma máquina de moer tudo a serviço da financeirização e do processo contínuo de espoliação dos mais pobres.
A esquerda que era oposição ao PT não parece pensar por outros caminhos também: ganhar eleições, construir mandatos, fazer políticas públicas. A receita é bem parecida. Precisamos de outras experiências de politização. Pensar e praticar o que seria modos de vida diferentes: redes de cooperação de trabalho que usem mais a tecnologia e a internet a favor dos mais pobres; novas redes de compartilhamento de cuidados; pensar com mais consistência a autoconstrução de moradias de qualidade contra a propriedade privada e os terrenos vazios para especulação; fortalecer as redes de midiativismo periférico que estão denunciando a violência policial, pensar sobre as disputas territoriais que nos façam ter mais controle de decisão sobre aspectos fundamentais da vida: as escolas, políticas de transporte, postos de saúde. Eu acredito que seja a partir dessas experimentações e da politização do cotidiano que vamos conseguir pensar um outro jeito de ser esquerda e de viver juntos. Isso não quer dizer que devemos abrir mão de disputar o que deveria ser público. As lutas hoje contra os desmontes dos direitos trabalhistas, a reforma da previdência são lutas incontornáveis. Mas uma esquerda que define seu sentido apenas pela disputa do Estado, desse Estado, é uma esquerda que está condenada ao definhamento.
IHU On-Line – Qual é o impacto ou o legado de Junho de 2013 nos dias de hoje? Como os anseios expressos naquelas manifestações se manifestam ou repercutem ainda hoje?
Alana Moraes – Os ecos de Junho estão aí quando nos deparamos com todo esse cenário de listas da Odebrecht, delações, acordos. Junho foi o grito ensurdecedor contra esse sistema. Ele começa com uma faísca simples, a indignação contra o aumento do transporte, mas foi a faísca suficiente para questionar toda a engrenagem. Junho sugeriu a possibilidade de radicalizar a luta contra o sistema que engoliu o próprio PT, mas naquele momento o PT quis se posicionar pela manutenção da ordem. Só que a “ordem”, demorando mais ou menos, estará sempre contra os de baixo. O PT e a esquerda de modo geral perderam a possibilidade de, com uma mobilização social histórica de 2013, fraturar e desmontar esse grande esquema de funcionamento da política no país. Outras forças se organizaram a partir desse vácuo e o “Fora PT” conseguiu responder aos anseios mais conservadores, mas, ao mesmo tempo, as mobilizações da direita tinham um perfil social e uma aparição política completamente diferente do que foi Junho. Junho pedia o fim da polícia militar, enquanto as manifestações da direita pediam mais polícia. A linha de corte é evidente.
Agora estamos nos equilibrando num fio muito delicado: não podemos achar que a Lava Jato é, de fato, a solução para uma nova ordem democrática, isso é um erro gravíssimo. A Lava Jato expressa, justamente, o poder de outra casta, a do judiciário racista, a mesma que prende o Rafael, o único preso de 2013 hoje. Ao mesmo tempo, não podemos concordar com nenhum pacto de anistia de caixa 2 ou qualquer outro acordo que pretenda salvar esse sistema. Precisamos pensar outros caminhos, mas, enquanto isso, continuar nas ruas denunciando Temer, exigindo novas eleições. O golpe foi cruel porque ele desmonta, por dentro, tudo o que grande parte da esquerda brasileira construiu como estratégia: o pacto lulista, o nacional-desenvolvimentismo que se alimentava de propinas, o agronegócio, que além de destruir nossas florestas, de exterminar populações indígenas, terminaria votando pela família e por Deus contra o governo que mais o favoreceu. No fundo, a luta de classes prevalece, é o Martírio, filme impactante de Vincent Carelli, esse Brasil que permanece insubmisso, existindo pelas bordas.
IHU On-Line – Muitos pesquisadores têm chamado a atenção para a mudança no modo de atuação dos movimentos sociais nos últimos anos, os quais já não seguem uma hierarquia e são mais difusos se comparados aos movimentos tradicionais. Nesse sentido, pode nos dar um panorama sobre o modo de atuação dos movimentos autonomistas nos dias de hoje? Que mudanças identifica entre antigos e novos movimentos, quem participa de movimentos sociais hoje, quais são as práticas desses movimentos e como eles se relacionam com a esfera pública?
Alana Moraes – Gostando ou não dos governos petistas, ninguém diria que o Brasil de hoje é o mesmo de dezesseis anos atrás. As formas de pensar e fazer luta, de se organizar, também estão mudando, ainda que coexistindo com as tradicionais formas de representação, cada vez mais em crise, como os partidos e sindicatos. O próprio Movimento Passe Livre – MPL, aliás, passou por uma crise importante desde 2013, e os debates produzidos nessa crise por eles são bons debates para pensar os problemas desses caminhos mais autônomos também. É difícil definir o que são os movimentos autonomistas hoje, é uma constelação bastante diversa de pequenos grupos que vêm misturando debates sobre formas de organização mais horizontais com outros debates sobre concepção de luta revolucionária, sobre o papel da classe trabalhadora, formas de conscientização, trabalho de base, tática etc. Podem misturar, por exemplo, como influências de forma de organização o zapatismo, mas, do ponto de vista da relação com a classe trabalhadora, apostar em estratégias de “proletarização” de seus militantes, como os trotskistas faziam aqui na década de 1970 nas fábricas.
Acho que vivemos em uma fase de experimentações políticas e isso é muito interessante, mas não gosto muito de saídas nostálgicas que fetichizam a classe trabalhadora ou que se colocam essa tarefa de “conscientizar” o outro, a “classe”. Acho que é a prática de uma vida coletiva em comum que pode criar pertencimentos e nisso acredito pouco nas receitas da ortodoxia marxista e muito nas práticas feministas.
Outra coisa que explode no Brasil hoje são os coletivos de negros e negras e os coletivos feministas. Isso representa uma mudança subjetiva avassaladora. Hoje não se faz mais um debate na esquerda ou na universidade só com homens ou um debate sobre periferia sem negros e negras, sem gente da periferia, não se pode mais fazer isso sem consequências. E aqui a esquerda tem caído em uma armadilha. Vejo muita gente, de autonomistas a leninistas, dizendo que as novas lutas negras e feministas estão “dispersando” a “verdadeira luta de classes”, que elas são “cooptadas pelo sistema”, são “pós-modernas”. Mas o que é a “classe” no Brasil? A classe é uma mulher negra que trabalha fora e dentro de casa cuidando de outros, mal paga. Não é possível falar do neoliberalismo hoje sem falar do encarceramento em massa de negros que ele produziu, sem falar do feminicídio que explode, sem falar de um modelo de exploração permanente do corpo e da vida das mulheres, que servem de colchão para toda crise econômica e social que o próprio sistema produz. Então, eu diria que nada é mais ameaçador para a ordem capitalista do que mulheres feministas e negros e negras que se organizam. Toda a concepção de trabalho, de valor, e até mesmo de quais as vidas merecem ser vividas no capitalismo é produzida com os pilares do patriarcado e do racismo.
Existe uma desconfiança em relação à “esfera pública” generalizada. Entre aspas mesmo, porque sabemos hoje que ela não é democrática, pública, ou igualmente acessível a todos e todas. Talvez o que toda essa constelação de novos movimentos esteja produzindo, como ecologia política, seja novas possibilidades de radicalização democrática. Quando os secundaristas ocupam suas escolas, entre outras coisas, é para dizer que eles próprios devem poder decidir sobre suas vidas, sobre suas escolas, contra uma gestão autoritária e burocrática. A divisão existente em muitos partidos de esquerda, que separa dirigentes-formuladores de política daqueles que executam tarefas, essa divisão não faz o menor sentido para essa nova geração. Não podemos pensar uma nova institucionalidade que seja mais aberta, mais democrática, sem pensar as formas tradicionais de organização das esquerdas.
IHU On-Line – Como a esquerda, em geral, reage diante desses movimentos difusos? Eles podem ser considerados como movimentos ligados à esquerda?
Alana Moraes – Quando o chamado novo sindicalismo surgia nos anos 1970, 1980, fazendo grandes greves e depois durante toda a discussão de formar um novo partido da classe trabalhadora, o PCB, que era a “esquerda tradicional” da época, dizia que criar o PT seria um gesto inconsequente, que atrapalharia no processo da abertura democrática e que o verdadeiro partido da classe era o PCB. É muito curioso que agora muitos dirigentes do PT estejam falando a mesma coisa desses novos movimentos, coletivos, do próprio processo de mobilização de Junho de 2013. Eu acho que o binômio novo X velho talvez não nos ajude hoje, ainda mais nessa conjuntura de reação conservadora. Precisamos pensar juntos novas formas organizativas, e hoje eu não vejo nenhum partido de esquerda realmente aberto a isso.
A esquerda cria um universo próprio, com um vocabulário próprio, é autorreferente; o marxismo, muitas vezes, é tristemente transformado em cartilhas. A derrota sofrida pelo PT no Brasil é uma derrota de toda a esquerda, e penso que se não estivermos suficientemente abertos para formas de organização mais porosas e democráticas, mais conectadas com os novos “chãos de fábrica”, escolas, universidades, agroecologia, ocupações urbanas, coletivos de arte, se o programa político não estiver fortemente vinculado com as lutas da vida real, com as possibilidades de construir espaços de resistência ao neoliberalismo, acho que vamos demorar ainda mais tempo para levantar da lona. Não tem atalhos.
IHU On-Line – Que futuro vislumbra para os novos movimentos sociais? Que impacto eles podem ter no âmbito público, por exemplo?
Alana Moraes – Acho que vivemos um novo ciclo de lutas. O MTST, os secundaristas das ocupações, os coletivos que discutem direito à cidade, os coletivos feministas, o novo movimento negro, os coletivos antiproibicionistas, a proliferação de coletivos periféricos, o midiativismo, os advogados ativistas, os movimentos de mães de vítimas de violência policial, os coletivos de arte que estão explorando outras linguagens e formas políticas, os hackers e aqueles que discutem hoje o problema da segurança na internet, de uma comunicação livre, de uma alimentação livre de veneno, enfim, acho todos esses compõem o que seria essa nova geração política.
É claro que o sindicalismo mais tradicional combativo ainda é muito importante, mas hoje temos novos atores em cena e que colocam novas questões – nada nos autoriza a jogar fora as experiências passadas, assim como combater as novas experiências de luta. É uma ecologia política bem interessante e que fala muito sobre o novo Brasil. Com a crise da forma-partido enquanto forma de organização, o que precisamos pensar hoje é o que seriam os novos espaços de confluência para que essas experiências de resistência possam se encontrar mais; como podemos pensar mais ações conjuntas, nos fortalecer mutuamente, nos reconhecer e ir produzindo nossos vínculos porque eles não são imediatos, ao contrário, eles são fruto dos encontros, do trabalho de construção de novas comunidades políticas.
No final dos anos 1990, começo dos 2000, tínhamos o Fórum Social Mundial que, com todos os limites, nos permitia pensar juntos e nos formar também coletivamente. É preciso retomar esse fio e pensar o que seria hoje esse espaço, quais seriam as novas questões e possibilidades de atuar juntos. Não podemos perder também a possibilidade de criar redes internacionais de resistência, nos conectar com aqueles e aquelas que estão pensando o esgotamento do modelo progressista na América Latina, por exemplo. A recente convocação para a greve de mulheres, a campanha feminista do “ni una menos”, nos interpelam também para pensar desse lugar das alianças internacionais.
IHU On-Line – Outro ponto da sua pesquisa é o estudo das novas configurações da classe trabalhadora no Brasil. Em que consistem essas novas configurações, como e desde quando elas estão ocorrendo?
Alana Moraes – A classe trabalhadora no Brasil sempre foi muito heterogênea. Essa classe que imaginamos, masculina e industrial, ainda que muito relevante, só existiu de forma significativa em São Paulo. Nos últimos 30 anos, a forma de acumulação de capital mudou muito, assim como o trabalho. Com o domínio crescente do capital financeiro, as formas especulativas tornam-se cada vez mais importantes. A classe de assalariados transforma-se agora em uma classe de endividados. A tradicional relação capital-trabalho que se dava em um espaço delimitado (empresas, fábricas etc.) perde importância na produção de riqueza, o setor de “conhecimento” torna-se o setor mais dinamizado do capital e a classe trabalhadora desloca-se majoritariamente para o chamado setor dos “serviços” e dos cuidados. Esse deslocamento é o que faz também com que muitas pessoas procurem outras formas de sobrevivência, como os pequenos negócios, as pequenas produções familiares, o trabalho dos “bicos”.
Com essa nova espacialidade do trabalho, com o fim das grandes fábricas e espaços de produção, fica mais difícil a organização dos trabalhadores nos locais de trabalho. Como diz o geógrafo David Harvey, toda a cidade se transforma agora em uma grande fábrica. Ainda temos um grande setor da classe trabalhadora que se relaciona com o desemprego constantemente. Junta toda essa fragilidade com uma vida impossível nas nossas cidades, com o déficit habitacional, o aumento dos aluguéis pela dinâmica da especulação imobiliária.
A pergunta que ainda não sabemos responder é: se o sindicalismo correspondia, enquanto forma organizativa, a uma classe trabalhadora do começo do século XX, quais as formas possíveis de auto-organização da classe do começo do século XXI? A esquerda precisa pensar se a figura clássica do “trabalhador” pode ainda mobilizar essas novas subjetividades que emergem desde as dinâmicas neoliberais (e suas resistências cotidianas!) ou se a produção de identidades coletivas migrou também para outros lugares.
É uma pergunta. Não sabemos bem, mas não podemos deixar de pensar nela e não podemos mais alimentar a nostalgia fordista querendo que as fábricas voltem para que nos situemos. A classe trabalhadora mudou radicalmente e pode não construir tanta identidade assim com o trabalho (já que os trabalhos “que restam” são trabalhos extremamente precários, extenuantes, pesados), mas com outras dimensões da vida, e por isso a igreja evangélica tem um papel fundamental. O combate ao neoliberalismo também passa por recriarmos formas de convivência, por exemplo, que produzam outras formas de solidariedade e cooperação, novos modos de existência.
IHU On-Line – Sua pesquisa de doutorado trata sobre a produção da vida em comum e os caminhos da politização do cotidiano entre os sem-teto na periferia de São Paulo. Como a pesquisa está sendo desenvolvida?
Alana Moraes – A minha pesquisa parte de uma pergunta simples, mas que hoje transformou-se quase em um não-problema para a esquerda e para a própria universidade: como se vive junto? Como é possível produzir uma vida em comum, um espaço compartilhado, pertencimentos coletivos em um mundo neoliberal marcado pelos processos constantes de esgarçamento dos tecidos sociais, pela transformação do mundo do trabalho, pela crise urbana?
Na minha opinião, o MTST é um movimento incontornável para entender o Brasil de hoje. Ainda que seja um movimento de quase 20 anos, o MTST explode e emerge na cena política com mais protagonismo em Junho de 2013. Portanto, é também fruto de 2013, de algum modo. As ocupações de sem-teto nas periferias de São Paulo são um grande laboratório de produção da vida coletiva. Pensar a alimentação, cozinhas coletivas, como fazer as mediações de conflitos de todo o tipo, a limpeza, as inseguranças de falar em assembleia, o desemprego, separações conjugais, a relação com as crianças, com a fé.
Na ocupação do Capão Redondo, fizemos uma rádio comunitária e temos também um cursinho popular para jovens, um salão de beleza autogerido, um bazar de roupas usadas. Construímos parede por parede, fiação por fiação. É um mundo extremamente feminino também. São as mulheres que cuidam das relações, as “tias” que, de alguma forma, também fazem novos parentescos, “o movimento tem que entrar no sangue”, como elas dizem. Na semana passada, fizemos uma roda de conversa só com mulheres sobre trabalho produtivo e reprodutivo na ocupação. Eram mais de 100 mulheres no barracão, e na hora da apresentação quase 90% das mulheres ali ou se apresentou como “desempregada, do lar”, ou “faxineira”, “diarista”, “cuidadora”, “babá”. Duas mulheres trans, em condição de prostituição, que trabalham à noite, também participaram da atividade. Fiquei pensando que se fosse uma reunião feminista na USP, teria um monte de tensão, mas ali no Capão, evangélicas, prostitutas, mulheres que cuidam, produziram um espaço incrível de formação coletiva e de convívio possível, pensando, por exemplo, o que fazemos com nosso escasso tempo livre. É muito importante pensar o tempo livre. As mulheres praticamente não têm esse tempo: estão sempre trabalhando, cuidando de tudo.
Minha pesquisa segue os problemas colocados nessa feitura cotidiana das possibilidades coletivas, das práticas compartilhadas de trabalho e cuidados – elas são bem anteriores às cenas que costumamos ver como propriamente “políticas”: as manifestações, os embates públicos. Muitas pessoas chegam nas ocupações extremamente fragilizadas, quadros graves de depressão, ansiedades, insônias crônicas, alcoolismo. No entanto, a vida coletiva cura e estou muito interessada nisso também, em como podemos nos curar coletivamente. Eu me esforço muito para não elaborar um conhecimento sobre os sem-teto, mas um conhecimento com eles e elas, com a relação que estabelecemos nas tarefas e afetos de todos os dias. Nossas práticas de ciência precisam também estar situadas e posicionadas politicamente. Não é mais possível, nem desejável, produzir uma política ou um conhecimento de vanguarda, afastado dessas questões que só acontecem quando estamos implicados com algo, com relações, com uma causa coletiva. É um aprendizado de pensar a partir da demanda que a luta nos coloca.
IHU On-Line – Qual é a expectativa para a greve geral anunciada para esta sexta-feira? Sendo a greve promovida pela CUT e pelas Centrais Sindicais, qual é a expectativa de adesão da população?
Alana Moraes – Eu acho que vai ser uma mobilização histórica. Para mim, é um exemplo de como o processo prático de construção coletiva pode nos levar para lugares mais interessantes, podemos falar com mais gente. Alguns processos interessantes estão também produzindo essa greve geral: coletivos que estão se reunindo na cidade para colar lambes de convocação como fez o Arrua em São Paulo; o próprio MTST fazendo assembleias em bairros na periferia de São Paulo para chamar as pessoas; os professores das escolas particulares enfrentando, muitas vezes, direções e pais conservadores e aderindo massivamente à greve; o movimento negro mobilizando e convocando para uma ala negra na marcha; os movimentos feministas também convocando bastante.
Por isso é importante que as estruturas sindicais repensem também o uso dos grandes carros de som que quase sempre impõem uma hierarquia muito grande nos atos e abafam qualquer possibilidade de outras expressões, impedem até que as pessoas conversem. Penso que nossas possibilidades de resistência estão muito vinculadas com a produção de outras espacialidades políticas também, espaços que permitam mais o encontro, que falem para mais gente e que permitam (e distribuam!) mais a própria condição da fala.