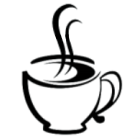[s2If !current_user_can(access_s2member_level1) OR current_user_can(access_s2member_level1)]
(Foto: não sei de quem é a foto. Se alguém souber, favor enviar o crédito para redacaocafezinho@gmail.com)
Arpeggio – Coluna diária
Por Miguel do Rosário
A coluna de hoje segue fechada para assinantes. [/s2If]
[s2If !current_user_can(access_s2member_level1)]
Para continuar a ler, você precisa fazer seu login como assinante (no alto à direita).[/s2If]
[s2If current_user_can(access_s2member_level1)]
Publico aqui o segundo capítulo do romance Vana, ainda inédito. O capítulo de hoje narra o encontro entre Vana e Carlos, durante a primeira grande manifestação contra o golpe no Rio de Janeiro, realizada na praça XV, no dia 18 de março de 2016. Enquanto fala dos personagens e do ambiente, o narrador discorre sobre os impasses políticos levariam ao impeachment. Os capítulos estarão todos reunidos sob a Categoria “Vana – o livro”. Ou na relação de cada página.
***********
Vana
Capítulo 2
A voz rouca das ruas
“Para entender seus filmes, você tem que assistir John Carpenter”, gritei, para me fazer ouvir em meio ao povo entoando refrões políticos.
“Você trouxe?”, Vana me interrompeu com sua adorável falta de noção. Ela se dirigia a Vitor, que respondeu com um sorriso e um aceno de cabeça, estudadamente sutis, e se afastou para comprar cerveja.
Eu continuei:
“A mesma economia. A mesma honestidade, a mesma luz. Sem aquele artificialismo irritante do Walter Carvalho, por exemplo. Ou de Lula, seu filho. Você sabia que eu o conheci, o Lula Carvalho? Há muito tempo, eu era criança. A gente andava pelas madrugadas explodindo cabeça de nego. Terrorismo de playboy, hehe”.
“Tá chegando muita gente!”, reagiu Vana, olhando ao redor.
De fato, a praça se enchia de gente vindo dos escritórios, do metrô, dos ônibus, das barcas.
Mais cedo, assim que chegamos, por volta das seis horas, eu olhava o céu preocupado, com medo de que uma daquelas chuvas terríveis de março estragariam o evento. Houve um momento em que uma série de nuvens carregadas sobrevoou o centro, lançando um pouco de umidade e chuvisco, mas passou. Não havia mais perigo. Às sete e pouco, a noite carioca se firmava seca, agitada, quente.
“Tem um filme do Carpenter”, eu prossegui, “chamado They Live, Eles vivem, que é uma metáfora genial para os dias de hoje no Brasil. O personagem principal encontra, por acaso, um par de óculos escuros que lhe permite enxergar como as coisas são na realidade. O mundo havia sido dominado por alienígenas, que divulgavam mensagens subliminares pela mídia. Ele põe os óculos e pode ver que todas as propagandas comerciais, os canais de TV, exibem mensagens como: obedeça, apenas trabalhe, não se revolte, não pense.”
“Vocês estão falando de quem?”, Vitor retornou trazendo as três stelinhas que lhe havíamos encomendado.
“Kleber Mendonça Filho”, Vana esticou o braço para colher a cerveja. “O Miguel disse que, para entender, é legal assistir John Carpenter, o diretor americano. O próprio Kleber admitiu a influência de John numa entrevista à Cahier du Cinema”.
Eu já deveria ter imaginado. Vana havia lido meu post sobre o filme, e leu também a entrevista que eu linkei. Por isso ela me escutava com ar blasé.
“Eu adoro!”, Vitor distribuiu as long-necks e se meteu no papo. “Eu gosto muito mais dele do que da Anna Muylaert”.
Vitor também entendia de cinema, possivelmente mais do que eu. A bem da verdade, eu não entendia quase nada de cinema; eu estava apenas tentando impressionar um pouco meus jovens amigos universitários, talvez para mostrar que meus interesses não se limitavam apenas à política. Eu era um blogueiro político, mas não queria ser apenas isso.
Os dois – Vitor e Vana – organizavam um cine-clube no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, no Largo São Francisco. Depois das sessões, quinzenais, costumavam acontecer debates. Foi assim que nos conhecemos: eles me convidaram para um debate após a exibição de Cidadão Kane, para falar de mídia e poder. Depois do evento, fomos tomar umas cervejas num bar ali perto, e ficamos amigos.
“As personagens de Muylaert são maniqueístas. No Que horas ela volta, a patroa é malvada, a empregada, bonzinha. É a luta de classes… for dumbs”, disse Vitor, tendo que levantar a voz para se fazer entender, porque o locutor havia chamado mais um coro de “Não vai ter golpe” e foi entusiasticamente acompanhado pela multidão.
Decidimos dar uma volta pela praça. Não era fácil circular, pela quantidade de gente. Devia ter mais de 50 mil pessoas. Ou cem mil? Sei lá. Eu nunca tinha visto a praça XV tão cheia, nem no Carnaval.
Pela minha idade, mais de 40 anos, eu deveria me sentir meio tiozão naquele grupo, mas não era o caso. Vana e Vitor, na faixa dos 20 e pouco, eram tão brilhantes, pareciam ter lido tantos livros, visto tantos filmes, que a gente conversava de igual para igual sobre todos os assuntos.
Naaaão vai ter goolpe!
Naaaão vai ter goolpe!
O refrão havia acendido um fósforo num quarto fechado cheio de gás. Os setores progressistas e liberais explodiram em manifestações, debates, encontros, que se realizavam diariamente, vários por dia, em todas as cidades brasileiras. E não apenas no Brasil. Comunidades de brasileiros em todo mundo também organizaram protestos.
A direita, no entanto, havia sido muito astuta. Ela havia organizado uma só manifestação gigante, no dia 15 de março, que recebeu um apoio maciço, histérico, de todo o sistema de comunicação tradicional. A geografia política brasileira a beneficiava de maneira extraordinária.
Por exemplo, havia uma disputa muito centrada em São Paulo. Quem levava mais gente à Paulista? Ora, São Paulo era justamente onde se concentrava a maior parte do eleitorado de oposição ao PT. Há anos, o eleitorado de esquerda vinha refluindo para as periferias das grandes cidades, para as cidades menores, para as áreas rurais, para regiões distantes da cobertura da imprensa.
Paramos numa área onde havia menos gente, na qual se podia respirar e conversar melhor, à esquerda do palco principal. Ao nosso lado, um punhado de jovens cantavam um refrão irônico: “Lula, ladrão! Roubou meu coração!”.
Vana me dizia que era a maior manifestação política de que havia participado. Também era a minha, eu pensei, sem muita certeza, talvez decepcionado por ter vivido uma era tão despolitizada que a maior manifestação de esquerda que eu testemunhava, além de não ser tão grande assim, somente se materializava em função de um momento desesperador, às vésperas de um golpe de Estado.
Não havia, porém, desespero no ar. Havia alegria. E alívio. Os últimos dias tinham sido ainda mais turbulentos, se é que isso era possível, do que o frenesi angustiante e diário dos últimos dois anos.
Em 16 de março, no mesmo dia em que os jornalões estampavam manchetes eufóricas sobre o sucesso de público das manifestações do dia anterior, a presidenta Dilma convocou uma coletiva de imprensa para anunciar a nomeação de Lula. A coletiva retratava bem a fase dramática vivida pelo governo. Dilma exibia profundas olheiras, exprimia-se com voz rouca, cansada. Ela hesitava pronunciar o nome de Lula – como que sentindo o peso do desafio.
Horas depois do anúncio de Dilma, feito pela manhã do dia 16, e que soou como uma bofetada na cara de uma direita ainda embriagada pelos milhões de pessoas que conseguira, no dia anterior, levar às ruas, o juiz Sergio Moro, num ato de vingança, libera à Globo um áudio, colhido ilegalmente, entre a presidenta e Lula, conversando sobre a nomeação marcada para o dia seguinte.
A Globo divulgou o áudio em tom de grave denúncia, com direito a encenação dramática dos âncoras que leram a transcrição. Os efeitos foram imediatos, com o surgimento de focos de tumulto em todo país, contra Lula e contra o governo, em especial nas áreas mais ricas, onde se concentram o segmentos mais conservadores da sociedade. Um amigo me dissera que, na Petrobrás, um grupo de diretores foi trabalhar vestido de preto. O protesto dos diretores da estatal, contra o presidente que mais havia investido na empresa, e logo contra seus próprios interesses, refletia bem a confusão de uma era de valores invertidos, em que a imprensa conseguia transformar mentiras em verdade com uma facilidade apavorante.
O Planalto agendou a posse de Lula para o dia seguinte, 17 de março. Era a última cartada de Dilma para reverter a crise. O ex-presidente empregaria seu reconhecido know-how político para articular a derrota do golpe iminente.
A manhã do dia 17 foi profundamente tensa. O Planalto organizou uma cerimônia nervosa, repleta de militantes, que entoavam a toda hora o “Não vai ter golpe” e outros cânticos de guerra.
O ar estava carregado. Desde 2015, o ódio político insuflado pelo consórcio golpista, formado pela mídia corporativa e pelos aparelhos jurídicos do Estado, vinha produzindo uma série de agressões gratuitas a petistas ou simpatizantes, em restaurantes e saguões de hospital.
Ainda em março de 2016, uma pediatra de Porto Alegre havia se recusado a atender uma criança de 1 ano de idade, alegando um motivo político: a mãe do garoto era simpatizante do Partido dos Trabalhadores.
Essa tensão insuportável, tão densa que quase podíamos senti-la fisicamente, como se a atmosfera tivesse se transformado numa massa pastosa, se dissolveu no dia 18 de março, com as grandes manifestações de rua contra o golpe.
Na Paulista, o campo popular conseguira reunir mais de 200 mil pessoas, com a presença de Lula.
Essa era uma diferença importante entre as manifestações. Um dos políticos mais proeminentes da direita, o presidente nacional do PSDB e ex-candidato à presidência da república, Aécio Neves, que havia postado vídeos conclamando a população a ir às ruas, quase foi linchado no dia 15 de março, na Paulista, quando tentava atravessar a multidão e chegar ao carro de som.
Já Lula foi incensado na manifestação organizada pelo campo progressista.
“Quem sabe faz a hora, não espera acontecer!”.
Vana fizera a citação de Vandré em tom jocoso, olhando para nós com ar matreiro. Vitor sorriu, balançando a cabeça afirmativamente, e puxou do bolso um pacotinho.
“Eu vou pegar outra rodada de cerveja”, eu me virei para ir ao ambulante mais próximo, quando vi Fernando Brito caminhando na minha direção, numa distância em que ainda não tinha me visto. Adiantei-me um pouco e gritei seu nome.
Ele olhou para mim e, como era seu estilo, começou a tagarelar sobre trabalho, como se retomássemos uma conversa interrompida.
“Como está sua audiência hoje?”, ele perguntou.
“Explodiu!”, respondi, com sinceridade. A audiência do Cafezinho estava impressionante naquele 18 de março de 2016. Até o final do dia, chegaria a 400 mil acessos, em 24 horas! Eu ainda tinha a senha do contador de pageviews do Tijolaço – pois havia sido co-editor e sócio do blog durante quase três anos – e verificaria, no dia seguinte, que a audiência dele chegara a quase 600 mil acessos em apenas um dia!
Despedi-me de Brito e segui meu caminho.
Enfim, encontrei um ambulante que não se via tão acossado de militantes sedentos e comprei três longnecks de heineken.
Já eram mais de oito horas da noite e a praça XV enchia-se cada vez mais de gente. Alguns deputados discursavam no palco principal. Como Wadih Damous, deputado federal pelo PT que se notabilizara por uma franqueza desbragada, até então inédita, ao tratar de temas que apavoravam a maioria dos políticos, como as conspirações judiciais. E Marcelo Freixo, o deputado estadual mais votado no estado em 2014. Freixo havia sido o primeiro político de peso a anunciar apoio à Dilma no segundo turno das eleições de 2014, ajudando a construir a mística vitoriosa daquela campanha. E agora se engajava na luta contra o golpe, mais uma vez se posicionando contra o eleitor moralista zona sul que seduzira em 2012, quando disputou a prefeitura. Com isso, Freixo chegaria a herdar, nas eleições municipais de 2016, quase a totalidade do voto de esquerda na cidade.
Quando voltei a meu lugar, Vitor já tinha apertado um cigarro de maconha e se preparava para acendê-lo.
E ali estávamos, pensei eu, subitamente melancólico: representantes de uma esquerda prestes a ser apeada do poder, com várias de suas lideranças enfrentando acusações judiciais gravíssimas, as quais, embora frequentemente forjadas, poderiam levá-las a uma longa (perpétua, a depender de Sergio Moro) temporada na cadeia, tendo à frente eleições municipais nas quais sofreríamos provavelmente importantes baixas (previsão que infelizmente se confirmaria, com a queda brutal dos votos na esquerda), e enfrentando todas aquelas desgraças com enfumaçada e etílica leveza.
“Em que você está pensando, Miguel?”, perguntou Vana, enquanto prendia a respiração para melhor absorver a fumaça.
“Cadê o Carlos?”, eu respondi com outra pergunta. Uma pergunta feita a mim mesmo, em voz alta, porque Vana não o conhecia.
“Ele me mandou uma mensagem dizendo que nos encontraria aqui. Eu queria apresentá-lo a vocês. É hora de vocês conhecerem um revolucionário de verdade. Um intelectual bêbado como eu não tem muita coisa a lhes ensinar”.
Carlos era um amigo com quem eu andava conspirando naquela época. A gente se encontrava e traçava planos mirabolantes, que nunca púnhamos em prática.
Nosso projeto mais recente era fazer uma série política, tipo House of Cards, versão brasileira, para youtube. A gente se encontrava, inventava as sinopses dos episódios, e gravava as nossas ideias em áudio, em nossos celulares, planejando vagamente contratar alguém para ouvir tudo aquilo e botar no papel. Impossível ser mais preguiçoso do que isso!
Eu estava ansioso para que Carlos chegasse, pois queria lhe apresentar Vana. Eu gostava dela, achava-a muito bonita, mas não tinha interesse nela além da amizade. Eu já era muito bem casado, amava minha esposa e não queria complicações. Na verdade, eu tinha medo era de que ela se apaixonasse por mim, então meio que forjei um plano – bem sucedido – para fazê-la se apaixonar por Carlos.
“Ele faz o que mesmo?”, perguntou Vitor.
“É diretor no sindicato dos petroleiros, de comunicação. Acho que pode ajudar o cineclube de vocês”.
Os olhos de ambos brilharam. Eu não estava mentindo. O sindicato dos petroleiros costumava apoiar iniciativas culturais como a deles.
Eu havia enviado outra mensagem a Carlos, e ele respondera. Ele já estava ali por perto, provavelmente ao alcance da vista. Mas a área onde estávamos havia se adensado de gente. Havia muitas faixas e bandeiras, contra o golpe, contra a mídia golpista, contra a Globo, obstruindo a visão.
Senti um empurrão nas costas.
“Que maravilha de manifestação, hein?”, Carlos falou, olhando para mim e para os dois universitários que me acompanhavam.
Eu me virei para os dois e disse, em tom jocosamente triunfante: “Vana! Vitor! Este é Carlos! “
Voltei-me para Carlos e disse: “Carlos! Esta é Vana! Este é Vitor!”
Agora posso confessar uma coisa à querida leitora: foi o olhar de Vana, ou melhor, o encontro de olhos entre Vana e Carlos, que me inspirou a escrever este livro.
Eu poderia fazer um livro simplesmente reunindo meus posts publicados no blog. Poderia fazer um livro com minhas teorias sobre os erros do governo e dos partidos de esquerda que nos levaram ao golpe.
Optei, todavia, pela opção menos sensata, mais difícil e arriscada: uma história de amor e política, inspirado por aquela primeira troca de olhares entre Carlos e Vana.
Eu não tinha o costume de assistir filmes de amor, mas sempre que o fazia, acompanhando minha mulher, eu chorava copiosamente nas cenas mais românticas, para delícia dela, que não perdia a oportunidade de tirar um sarro comigo.
“Não acredito! Tá chorando, Miguel!”, ela dizia. E morria de rir.
Nesses filmes, eu procurava prestar muita atenção numa coisa que sempre me intrigou: o momento em que o amor aparece. Em alguns filmes, o par romântico sente antipatia mútua, às vezes se hostiliza abertamente, o que frequentemente não passa de tesão enrustido, até descobrir, perto do final, que são loucamente apaixonados um pelo outro. Essa é uma técnica particularmente americana. A técnica mais francesa, a meu ver, é o amor que surge aos poucos, enquanto os personagens conversam ao longo de um passeio à beira do Sena ou coisa parecida.
Há também o amor súbito, fulminante. A paixão à primeira vista. Que é, no entanto, mais rara do que a sua fama, talvez por não oferecer tanta riqueza dramática ao autor.
Não tenho certeza em qual dessas alternativas se encaixa o amor entre Vana e Carlos. Quer dizer, não foi a primeira opção certamente, porque eles nunca se hostilizaram.
Mas sei o que eu vi: um brilho especial no olhar de Vana, quando ela trocou olhares com Carlos, pela primeira vez.
Talvez fosse um brilho apenas de desejo, ou de curiosidade, cuja importância eu tenha exagerado.
Carlos era um quarentão como eu, mas em melhor forma física. Não era exatamente bonito, porque era baixo, mas tinha um sex appeal que, inegavelmente, como testemunhei várias vezes, atraía as mulheres. Era negro, de pele bem escura, com traços africanos bastante acentuados: lábios grossos, nariz achatado, cabelo pixaim.
Suponho que o que mais atraísse as mulheres, em Carlos, era a mescla interessante de duas qualidades. Ao mesmo tempo em que ele aparentava possuir grande força física, tinha também um rosto inteligente e um ar pensativo, quase triste.
Após recusar, delicadamente, o baseado que lhe ofereceram, Carlos se afastou para comprar uma cerveja.
Assim que ele saiu, Vana e Vitor trocaram olhares engraçados. Vitor era homossexual, de um tipo nada tímido, e não foi difícil adivinhar o que eles cochicharam um para o outro.
Do palco vinha música. Otto, um dos artistas que apoiavam o movimento contra o golpe, dava uma canja e cantava uma de suas canções, acompanhado de uma banda que a organização do evento havia contratado.
As manifestações do campo progressista, que foram relativamente grandes (embora não grandes o suficiente para barrar o golpe) em 2015 e 2016, tinham uma virtude que eu considerava maravilhosa, sobretudo quando as comparava com os protestos dito “coxinhas”: eram divertidas. Mas hoje, à luz de tudo que aconteceu desde então, eu sou obrigado a admitir que essa também era uma de suas maiores debilidades: eram manifestações demasiadamente leves, alegres. Não pareciam, para o povo que as observava de fora, protestos contra a pior desgraça que pode acontecer a um país: um golpe de Estado, o assalto do poder por um punhado de bandidos políticos sem o mínimo compromisso com o bem estar da população ou com a soberania nacional.
Havia portanto uma esquizofrenia semiótica nos protestos contra o golpe. Além disso, eram protestos contra algo que ainda iria acontecer, o impeachment. As massas, via de regra, apenas se mobilizam contra aquilo que já aconteceu. Há uma razão filosófica que explica isso, um ceticismo natural do povo, que o faz se erguer apenas quando o problema político entra em sua casa e surrupia o leite de seus filhos. Antes que isso aconteça, ela desconfia que os conflitos sejam meras disputas por espaço de poder.
O povo apenas costuma ver legitimidade num protesto político quando ele é contra o governo, até porque não entende muito bem a diferença entre as instituições que, juntas, detêm o Poder. Para ele, tudo é governo: Executivo, Legislativo, Judiciário, Globo. Era muito difícil, quase impossível, explicar ao povo – ainda mais com um sistema de comunicação completamente dominado por uma burguesia profundamente reacionária – que enfrentávamos um bloco de poder que tinha muito mais força que o então governo. Um bloco que ainda não era governo. Mas que logo mais se tornaria também governo, adquirindo então, como vemos agora, um poder descomunal, sem contrapesos, sentindo-se livre para atacar direitos sociais e individuais, impondo sua vontade qual um soberano absoluto da época do renascimento.
Em 2015 e 2016, a crise econômica, muito real, mas amplificada ao infinito pela mídia, não estimulava o povo a participar de nenhuma “festa democrática”, como pareciam ser as manifestações contra o golpe, compostas, em sua maioria, pelos setores mais privilegiados da classe trabalhadora, como servidores públicos, micro-empresários, estudantes e artistas.
Na época eu ainda não pensara nisso, e ficava embasbacado com os protestos contra o golpe. Eram as maiores manifestações das quais eu tinha participado. Eu ainda não tinha concluído que isso não significava muita coisa. Excetuando-se as jornadas de junho de 2013, que eu pretendo analisar numa outra parte deste livro, e que não eram exatamente “políticas”, mas “antipolíticas”, e das quais, de qualquer forma, eu não participara realmente (apenas testemunhara, perplexo, uma delas), quase não houve manifestações políticas de magnitude no Brasil durante os primeiros dez anos da era petista. Esse silêncio político pode explicar as jornadas de junho, que talvez tenham sido uma explosão de forças que, enterradas pela mídia abaixo da superfície, sufocadas pelo pacto faustiano entre um governo de esquerda e uma elite ainda ultraconservadora, finalmente vinham à tôna. E vieram com a força de um tsunami, desornadas, caóticas, diabólicas, destruindo o pouco de infra-estrutura política que tínhamos construído nos últimos anos, deixando em pé apenas as casamatas narrativas da mídia, construídas estrategicamente, a maneira dos castelos medievais, no alto dos morros da opinião pública.
Carlos voltou com uma cerveja na mão e uma ideia na cabeça.
“Miguel, a gente tem que usar vídeos dessas manifestações em nossa série!”
“Sim, mas a gente só fala, Carlos, não põe nada em prática. O golpe vai acontecer e a gente continua falando, falando, falando. Gogó não faz revolução”.
Carlos fingiu que não ouviu e continuou:
“A série podia começar numa manifestação. Podíamos inserir os dois personagens que criamos, Dolores e José, nessa mesma praça. Ele se conheceriam aqui, se apaixonavam à primeira vista! E depois aderiam juntos a um movimento revolucionário contra a neoditadura da mídia!”
Vana e Vitor não pareciam atentos à nossa conversa. Vana conversava com uma amiga que havia encontrado por acaso e Vitor mexia, absorvido, em seu smartphone.
“Interessante essa Vana, hein”, disse Carlos, olhando também para ela após perceber que eu a observava.
“Sim, ela é demais”, eu respondi, mas não estava mais prestando atenção em Carlos. Eu estava lendo uma mensagem no celular, informando que um juiz federal havia cassado, através de uma liminar, a titulação de Lula como ministro da Casa Civil. Todo o esforço político daquela manhã, quando centenas de militantes embarcaram à Brasília para dar apoio à decisão da presidenta de trazer Lula para dentro do governo, fora em vão. O judiciário não nos deixava respirar.
Lula, portanto, não era mais ministro. O que significava que o consórcio golpista já havia tomado o poder. A oficialização do golpe aguardava apenas o tempo necessário para cumprir os trâmites burocráticos.
O comício tinha terminado. A multidão desocupava a Praça XV, escorrendo pelas ruas de acesso, entoando, em coro uníssono, o refrão que correu o mundo.
Naaaão vai ter golpe! (E vai ter luta!)
Naaaão vai ter golpe! (E vai ter luta!)
Os restaurantes das adjacências foram inteiramente ocupados pelos manifestantes. Dentro dos estabelecimentos, o refrão era repetido a cada vez que entrava uma nova pessoa, um novo grupo.
Quando aparecia um apresentador da Globo na TV, uma grande vaia ecoava por todo o centro do Rio.
Aquelas manifestações podem não ter sido suficientes para barrar o golpe, mas um dia alguém terá de fazer um filme decente sobre o que aconteceu.
Foi uma luta épica. Alguns poucos milhões de cidadãos, minoria num país com mais de duzentos, ofereceram heróica resistência psicológica, cultural, política, ao mais violento massacre midiático já visto na história das democracias modernas. Um massacre liderado por um terrível Leviatã, um gigante com inúmeras cabeças e braços, que nos atacava por todos os lados e que acabaria por nos derrotar.
Mas o faria a um preço tão alto, impondo um prejuízo econômico tão grande ao país que, para acertar a conta do golpe sem tocar nas castas que o patrocinaram, teria de impor uma agenda política brutalmente conservadora, jogando todo o custo do golpe nas costas dos trabalhadores – ou seja, teria que criar as condições pré-revolucionárias que apressariam o seu próprio fim.
****
Vana: relação de capítulos já publicados.
[/s2If]