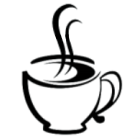Foto: Claudia Versiani
por Claudia Versiani
Eles chegaram de repente e se instalaram com seus pertences – colchonetes, cobertas, roupas velhas e demais badulaques – no vão entre o muro da Cobal de Botafogo e o prédio ao lado. Talvez viessem em razão da “limpeza” das ruas para as Olimpíadas. Talvez não. Eram adolescentes, adultos jovens e até uma criança de três ou quatro anos. Um dos garotos ficava num dos acessos ao mercado vendendo bananadas. Os outros, conversando ou dormindo – mesmo durante o dia. Segundo relatos nem sempre confiáveis, mantinham relações sexuais debaixo do cobertor, à vista de todos – algo aceitável num certo programa de televisão, mas não na rua, com protagonistas tão desprezíveis.
Na cena seguinte, um PM chega querendo tirar deles uma garrafa supostamente com tiner, que eles supostamente cheiravam. A confusão se instala. As bananadas foram atiradas ao chão. Pelo policial ou pelo menino? Não se sabe. As meninas choram e gritam. Os meninos reclamam. Os transeuntes se dividem entre os que defendem e os que atacam os direitos desses seres aos quais cabe a palavra mais feia que a recente reforma da língua portuguesa criou: subumanos.
São subumanos. Na aparência, na linguagem, na falta de direitos, na experiência de vida. Não conseguem argumentar. Mal articulam uma frase coerente. O que aprenderam? Tiveram quem os ensinasse? Têm família? Sempre viveram na rua?
Provocam o policial, que revida com um empurrão. Um deles grita que é “dimenor”, outro que o PM ali se mostra valentão, mas se fosse à favela seria recebido a tiros. É possível. Mais que possível: provável. Muitos policiais morrem em condições semelhantes, mesmo fora de serviço. No Rio, até agosto desse ano, 275 foram baleados, e 68 faleceram. Só 164 estavam trabalhando. Os outros estavam de folga, eram reformados ou aposentados. O documentário “Notícias de uma guerra particular”, de Kátia Lund e João Moreira Salles, retrata bem o problema.
O policial em questão, talvez chamado por morador ou comerciante das redondezas, fez abordagem canhestra. Não foi treinado para isso. Argumenta que a situação poderia evoluir, que eles poderiam roubar, ou já tinham roubado, como alguém lhe disse. Quem disse? Não responde, mas retruca: pessoas como essas vivem nas ruas, têm filhos que também irão viver nas ruas. Cheiram cola e tiner e ficam transtornados. A solução? Ele desconversa.
O companheiro dele declara ter adotado uma criança de rua. Misto de admiração e espanto. O preconceito contra os moradores de rua se confunde com o preconceito contra a polícia. A situação é pouco clara. Não há mocinhos, não há bandidos, não há heróis. Impossível se escudar no maniqueísmo de personagens bons versus personagens maus. O que existe é a situação de rua a que muitos são empurrados, por um ou outro motivo, e a polícia, acuada pelas circunstâncias e despreparada para lidar com elas.
Mais tarde, talvez seguindo sugestão de passantes, um lampejo de lucidez: o veículo da Secretaria competente estaciona com a porta aberta, esperando interessados em ir para o abrigo municipal. Um senhor os aborda, tentando convencê-los. Não se sabe se alguém aceitou o convite, pois se ouviam reclamações sobre as condições dos abrigos e o tratamento lá dispensado.
Horas depois, rumores do tumulto corriam a região, assim como carro de bombeiros com sirene aberta e mais policiais. O que teria acontecido? Cercado por fita de isolamento, o corpo de Priscila, uma das meninas do grupo, 24 anos, cinco filhos. Um guarda afirma ter sido overdose. Uma garota, aos prantos, diz que houve discussão e a amiga empurrou a moça, que bateu com a cabeça. Conta que ela tinha cheirado “loló” – entorpecente à base de clorofórmio e éter -, e que é comum morte nessas circunstâncias: intoxicação com “loló” associada a batida na cabeça, mesmo leve. O marido de Priscila, companheiro de rua, tentava ligar para a mãe dela, com quem os filhos vivem.
No dia seguinte, restavam no local alguns trapos, um sapatinho de criança e um carrinho de bebê revirado no meio da rua. O garoto das bananadas, que garante não usar drogas, continuava oferecendo seu produto. Sem muita emoção, fala um pouco sobre Priscila, que morava em Caxias, assim como ele. O que seria ela, se pudesse ter sido? Balconista, secretária, cientista? Atriz, professora, bancária?
O homem é um animal louco, escreveu a psicanalista Cássia Chaffin. Minhocas, cachorros, gatos, passarinhos e borboletas não precisam de orientação para viver, como o ser humano. Para se organizar e se impor ao mundo, não basta estar vivo. Não basta o hardware, completa Chaffin. Os humanos precisam de software – proporcionado pelo espelhamento em quem o acolhe. Ou seja, para fugir da desordem mental intrínseca, o ser humano, ao contrário dos animais, precisa do outro. Em qual outro essas criaturas que se refugiaram na Cobal se espelharam?
Vale também lembrar experimentos feitos com ratos de laboratório, que preferem água com cocaína a água comum, e a ingerem até morrer. Mas o professor canadense Bruce Alexander tentou algo diferente: colocou-os numa gaiola com boa comida, bolas coloridas e túneis para brincar. Os ratos dessa gaiola, ocupados com atividades agradáveis, não se tornaram dependentes da droga.
Priscila não conseguiu. Vida que segue.
Cláudia Versiani é jornalista, fotógrafa e professora do curso de Comunicação Social da PUC-Rio, além de autora dos livros “Os homens de nossas vidas” (crônicas) e “Bodas de Sangue: a construção e o espetáculo de Amir Haddad” (fotografias).