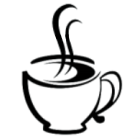O ‘Brexit’ talvez seja um dos maiores eventos na política britânica e europeia em pelo menos 40 anos e merece reflexão. Com o Partido Trabalhista se digladiando a olhos vistos, seguem algumas observações sobre os caminhos da esquerda britânica, para a semana que vem, o Brexit e a mídia.
O Brexit ganhou. Para aqueles que vêm seguindo minuciosamente a política britânica, não surpreendeu. O referendo foi uma aposta de um Primeiro-Ministro sortudo para resolver, de uma vez por todas, os problemas internos de seu partido, o Partido Conservador, e acabar com a ameaça do crescente partido anti-europeu, Ukip. Infelizmente, sorte é sorte e Cameron acabou perdendo, acirrando o sentimento eurocético no país, fortalecendo o Ukip, além de alavancar as forças mais reacionárias dentro do seu partido.
Para aqueles que ainda botam fé no “Homo Economicus” e na escolha racional nada faz sentido porque, para eles, o que move o mundo “é a economia, estúpido”. Pois bem, não só Cameron e seu Ministro das Finanças alertaram para os efeitos econômicos do Brexit ad nauseum, como também, todas as instituições nacionais e internacionais e nada disso fez a menor diferença.
Por outro lado, é bem verdade que foram os mais lesados economica e socialmente que votaram para sair da União Europeia, como os gráficos no Guardian de sexta-feira, 24 de junho mostram, (http://www.theguardian.com/politics/ng-interactive/2016/jun/23/eu-referendum-live-results-and-analysis). Há uma relação quase perfeita entre classe e a falta de escolaridade e o voto no Brexit (retirando-se a Irlanda do Norte e a Escócia – sobre os quais falarei mais adiante) e uma relação menos direta, mas ainda muito significante, entre Brexit e renda, e Brexit e idade.
Numa primeira análise, a correlação entre o Brexit e estas variáveis foi tão forte que o referendo parecia fugir dos históricos padrões eleitorais britânicos. Distritos tradicionalmente trabalhistas, (lembrando aqui que a posição oficial do Partido Trabalhista era a favor da EU), como as zonas pós-industriais dos Midlands, e do nordeste e noroeste Inglês, mais os chamados “Vales” do sul do País de Gales, votaram a favor do Brexit, enquanto que os distritos Conservadores dos “Home Counties” se dividiram menos por renda e mais por classe e educação: províncias do leste e sudeste, nomeadamente Essex e Kent, conhecidas por seus altos números de novos ricos e ‘emigrados’ dos bairros populares de Londres, votaram pró-Brexit, enquanto que as províncias mais “quatro-centões” (por falta de terminologia equivalente) e com maior escolaridade, como Surrey, Sussex e Oxford, votaram para ficar.
Os partidos tradicionais de esquerda e centro-esquerda sempre dependeram de uma articulação entre as classes trabalhadoras e a classe-média metropolitana-liberal, acadêmicos e intelectuais. Neste referendo, esta articulação rompeu-se e a classe-média de esquerda se alinhou com os seus pares conservadores.
A princípio, o Partido Trabalhista nada teria a temer, afinal, o Brexit não seria uma questão partidária. Porém, o referendo consolida uma tendência que já tinha se feito presente nas últimas eleições. O Ukip surgiu não só como uma ameaça para os Conservadores mas também para os Trabalhistas, obtendo quase 4 milhões de votos (e só um assento no Parlamento: ah, a grande democracia Britânica), chegando segundo em vários distritos considerados, até então, como redutos eleitorais Trabalhistas.
E mais, depois do referendo escocês de 2014, o Partido foi varrido do mapa naquele país. A Escócia, representada pelo vermelho trabalhista desde o começo – da indústria naval de Glasgow com sua população irlando-escocesa católica até a intelectualidade protestante da fria Edimburgo -, que contribuiu com grandes nomes para o Partido desde fundadores a Primeiros-ministros, de repente, em uma única eleição, votou majoritariamente no Partido Nacionalista Escocês (SNP).
O que aconteceu? Porque a Escócia deu preferência aos Nacionalistas nas eleições gerais e resolveu ficar na EU, quando eleitores do mesmo perfil socioeconômico na Inglaterra e no País de Gales apoiaram o Brexit?
Tony Blair levou os Trabalhistas a vitória depois de 18 anos sob os Conservadores que transformou um país social-democrático em neoliberal, remodelando a economia – antes de matriz fortemente industrial (41% do PIB em 1948 a 14% em 2013) – impulsionando os serviços (79% do PIB em 2013). Com a marca New Labour e a queda do muro de Berlim, os Trabalhistas mudaram a constituição do Partido, substituindo a cláusula sobre nacionalização e distribuição comum dos frutos do trabalho da nação, por outra menos comprometida com o socialismo e mais empenhada com o liberalismo progressista de igualdade de oportunidades e justiça social.
Com Blair no governo, o partido melhorou os serviços sociais e a vida dos mais pobres, sem proporcionar uma visão ou narrativa alternativa ao pujante individualismo egoísta tão bem encapsulado na notória frase de Margaret Thatcher: ‘Não existe sociedade…’
Os Conservadores não só acabaram com as indústrias, mas com todo um modo de vida onde o trabalho acontecia, se não no chão da fábrica, pelo menos nas grandes instituições públicas e privadas que proporcionavam aos trabalhadores ambiente, remuneração e futuro estável. Thatcher reduziu poder dos sindicatos e com o desaparecimento de empregos fixos, a terceirização e mudança na matriz econômica de industrias para serviços, a sindicalização também ficou cada vez mais difícil.
Os governos de Blair e Brown nada fizeram para reverter essa situação, acreditando numa meritocracia fundamentada na igualdade de oportunidades. Baniram a palavra ‘classe’ de seu vocabulário e continuaram a incentivar as ambições individualistas e consumeristas dos cidadãos britânicos. E, durante os anos pré-crise, a fórmula funcionou.
O Partido avançou em termos de direitos individuais e liberais, como a adoção da legislação europeia de direitos humanos, progrediu em políticas de gênero, aprimorou as leis anti-racismo, entre outras ações, mas não soube lidar adequadamente com os ‘esquecidos’ (o termo ‘left behind’, está sendo cada vez mais empregado) distritos pós-industriais, que numa série de revitalizações urbanas, até viram a emergência de novos empregos, mas que trouxeram maior precarização, insegurança e falta de estabilidade.
Por que tudo isso seria importante? Por duas razões, primeiro porque a melhoria material da vida de toda a população, inclusive dos desfavorecidos, se revelou instável. Grande parte da população que vive de empregos flexibilizados não se sente suficientemente segura num mundo que, muitas vezes, a deixa marginalizada.
A segunda razão tem a ver com mudanças tanto reais como simbólicas para as classes trabalhadoras. O novo mundo fragmentado do trabalho não fomenta a sindicalização nem a luta solidária pelos direitos, e muito menos a politização. As pessoas frequentemente trabalham sozinhas, em pequenos grupos, ou em locais de trabalhos que nada tem a ver com quem as emprega. Apesar dos esforços de certos sindicatos, como o Unite, para atingir estes trabalhadores, há muito temor de que a mera sindicalização seja motivo suficiente para a demissão, mesmo quando existe a proteção da lei.
Em termos simbólicos, a sindicalização reforçaria tanto o sentimento de classe, como a participação na política e a politização. Apesar de que nem mais o Partido Trabalhista analisa o mundo em termos de classe, a população – sejam eles ingleses, galeses, escoceses ou irlandeses – precisa de pertencer a alguma coisa e, até agora, nenhum outro movimento social que não o sindical foi capaz de promover este sentimento de pertencimento da mesma maneira.
Na Irlanda do Norte, as identidades culturais e religiosas sempre dominaram a política, dividindo a população entre católicos e protestantes. Na Escócia, sem sentimento de classe, a lealdade ao Partido Trabalhista se revelou cada vez mais supérflua e o SNP, um partido progressista que compartilha boa parte dos valores Trabalhistas, além da possibilidade de independência política, tornou-se atraente.
Um argumento constante durante as campanhas para a independência da Escócia era que quando a maioria inglesa elegia os Conservadores, a Escócia, que sempre votava Trabalhista, tinha que aturar. Nicola Sturgeon, líder do SNP, volta agora a adotar o mesmo argumento para provocar um segundo referendo sobre a independência, já que a Inglaterra votou pelo Brexit. A identidade escocesa se contrapõe à inglesa e não à europeia.
Na Inglaterra e no País de Gales (onde o sentimento puramente nacionalista nunca foi tão acirrado), a falta de identidade de classe levou ao desafeto e à nostalgia por uma mitologia britânica de independência e autonomia em relação ao mundo, que vê na União Europeia uma instituição constrangedora de sua soberania.
Tony Blair foi bem-sucedido ao levar o Partido Trabalhista em direção ao centro-direita, acreditando que sua base popular, mais à esquerda, não tinha alternativa de voto. Por anos, a disputa política foi pelo centrão, às vezes mais à direita, às vezes mais à esquerda. Com a destruição da narrativa de classe, se desfaz também a fidelidade histórica da classe trabalhadora (que como o referendo mostrou, não desapareceu) ao Partido Trabalhista que se distancia cada vez mais de sua base.
Sobra a metrópole, os intelectuais, a classe média liberal e uma juventude que parece já não se importar com o Império Britânico e ideias de superioridade nacionalista. No futuro próximo não parece provável que a Escócia volte a ser atraída pelos Trabalhistas, isto é, se não houver uma ruptura ainda maior. Resta saber se, num mundo orientado mais por identidades culturais que por classe, ainda haverá espaço para o Partido Trabalhista.