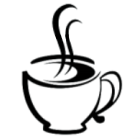Por Bernardo Oliveira*, editor de música do Cafezinho.
O poder da música em produzir imagens na mente é contígua à capacidade do som de nos reportar a realidades complexas, objeto reconhecido nos estudos da percepção. A música cria um ambiente que, se não é materialmente visível, a audição nos permite vê-los como formas, mas também como fatos. A música evoca ações, objetos, paisagens, estados de alma, contornos mais ou menos definidos, e até mesmo um salão com suas mesas, janelas e abajures, sitiado por indivíduos atormentados pelo ambiente claustrofóbico. Assim é a música do sexteto paulistano Salão Extremo, projeto instrumental capitaneado pelo músico, compositor e instrumentista Henrique Diaz e que envolve membros do Hurtmold, Baoba Stereo Club e Rumbo Reverso: uma trilha sonora para filmes que não existem, mas que habitam nosso imaginário sob a forma de climas, gestos e ambientes.
Guitarrista no quarteto instrumental Baoba Stereo Club, Diaz lançou no ano passado Toti EP em parceria com o multi-instrumentista Mauricio Takara pelo selo Desmonta. Mas foi com seu projeto pessoal, a quadrilogia Coalhado, que se destacou como um artista capaz de criar direções sonoras particulares. Um conjunto de 36 faixas que vão do improviso para piano até uma toada mineira com tonalidades psicodélicas, passando por experimentos eletrônicos compostos com sensibilidade especial para a evocação de imagens e ambientes, tanto associados ao cinema como aos quadrinhos e aos games. Produzido, arranjado, gravado e composto por Diaz, a quadrilogia já teve os três primeiros volumes também lançados pela Desmonta e deve ser concluída até final de 2016.
De modo semelhante ao seu projeto solo, a música do Salão Extremo dialoga também com o conteúdo cinematográfico e imagético da música. Formado por Diaz (guitarra), Ricardo Pereira (metalofone, flauta e eletrônicos), André Calvente (baixo), Maurício Takara (sopros e cavaquinho), Leandro Archela (teclados) e Cacá Amaral (bateria e percussão), o sexteto gravou quatro faixas: “Damascos frescos lá do natural”, “Caminho torto por Varsóvia”, “Do que o acaso é capaz” e “Gravado numa parede pode sumir”. A concepção musical parece especificamente desenhada para sugerir cenários através de artifícios dramáticos como pausas e retomadas abruptas. A estrutura é clara: primeiro, o “tema” ou linha geral bastante característica que se repete ou se desconstrói ao longo da faixa. Depois, a mudança de clima através da proliferação de pequenos detalhes e variações de timbre, andamento e compasso inseridos pelo metalofone, os sopros, os teclados, a flauta, etc. Não se trata de improvisação, mas de produzir o mínimo de variações rítmicas e harmônicas criando um espaço obsessivamente delimitado, mas exposto a variações sucessivas.
Por exemplo em“Damascos frescos lá do natural”, faixa de abertura na qual o ritmo em compasso ternário é afetado pelas síncopes dos instrumentos de percussão e harmonia. Ou em “Caminho torto por Varsóvia”, o tema executado pela guitarra e o ritmo marcial contrastando com os ataques das percussões, sopros e teclados. “Do que o acaso é capaz”, que começa lentíssima, o tema dilatando-se até a mudança brusca de andamento, a partir da qual destaca-se a harmonização do metalafone e o solo de shenai executado por Takara. “Gravado numa parede pode sumir” finaliza o disco com uma espécie de homenagem torta ao jazz, levando o ouvinte do walking bass à desconstrução radical caracterísitica da Fire Music através de justaposição de escalas e desenhos melódicos assimétricos. Em cada uma dessas faixas, circunscritos na forma musical, pode-se identificar os elementos de um ambiente, uma “cena”, um take.
O lançamento do primeiro álbum do Salão Extremo também marca o início das atividades do selo Urubu, no qual Diaz se associa a Eduardo Fraga (curador e gestor cultural atualmente radicado em Londres) para promover os meandros experimentais da música brasileira contemporânea no mercado internacional. O disco também sai pela Desmonta. Abaixo, reproduzimos um bate papo que ocorreu por email com Henrique Diaz acerca de sua carreira, o selo Urubu e, é claro, sobre o Salão Extremo.
[bandcamp width=350 height=470 album=330636422 size=large bgcol=ffffff linkcol=0687f5 tracklist=false]
Conte-nos um pouco de sua trajetória e, particularmente, sobre seus trabalhos solos, Coalhada e Coalhado, volumes 1 e 2.
Desde sempre toquei, fiz algum tipo de barulho. Depois vieram os estudos, bandas com amigos, o rock, a atitude, o jazz, a música brasileira. Veio tudo. Fui conhecendo o mundo e as culturas através da música. Primeiro por discos e depois até fisicamente, tocando. Minha idéia sempre foi andar, experimentar, ver o que acontece. Nesse meio de muitas coisas, surgiu o Coalhado e o Coalhada, que nada mais era do que músicas escritas e gravadas por mim, mixadas e tocadas também por mim. Um projeto bem pessoal, de abrir parte do meu processo criativo, de músicas que pensava pra alguns projetos mas não conseguia encaixar. Acabaram que se resolveram solo e viraram quatro discos (só três foram lançados até agora). O último (Coalhado Volume 2) é o que mais se concentra sobre o processo. É meu processo puramente aberto.
Como surgiu o Salão Extremo?
O Salão Extremo surgiu da vontade de testar algumas composições com um grupo de músicos que eu não estava tocando mas que tinha alguma admiração e curtia muito a sonoridade — a exceção é o Mauricio Takara, com quem toco junto com muita freqüência. É um projeto sobre tempos, harmonia e sonoridade. Então no final de 2015 juntei a galera e fizemos o som.
Tinha algum conceito/ideia por trás quando iniciou o projeto?
Os temas e as estruturas das músicas já estavam fechadas. O conceito sempre foi transitar por harmonias não convencionais e tempos quebrados, evitando ao máximo os sons eletrônicos. Não queria que caísse pro jazz e nem pro pós-rock, nem pra algo aberto demais ou muito improvisado. Então, mesmo nas partes mais abertas, o improviso era em cima de temas testados e ensaiados. Assim, não tinha nada que não tivéssemos praticado antes. De resto, deixei os músicos bem livres para interpretarem e meterem a mão do jeito que sentissem melhor. O Archela e o Mau tinham mais espaço, porque estruturamos a música como quarteto e depois convidamos os dois.
Você afirma que se trata de um projeto sobre “tempos, harmonia e sonoridade”. Explique um pouco mais, por favor.
As sobreposições de sonoridades e texturas formam o que a gente arrisca aqui a chamar de improviso, mais do que propriamente temas. Instrumentação tradicional, como guitarra, bateria e baixo mescladas com outros mais inusitados, como sopros romenos e indianos, teclados esquecidos em estúdios… Isso foi o que experimentamos em termos de sonoridade. Em termos harmônicos, buscamos o cruzamento entre escalas também tradicionais (maiores e menores) com outras formas pouco usadas, como trítonos. Mas em geral é mais sobre desarmonizar do que harmonizar. Com relação aos tempos, buscamos cruzar tempos em compassos pares e impares, desencontrando e reencontrando em algum ponto da música. No final o projeto é sobre desencontros com pequenos momentos de encontros.
Como foram as gravações? Descobriram algo durante o período de estúdio?
As gravações foram feitas no estúdio Minduca, do Bruno Buarque. Foi demais gravar lá, gravamos de forma bem intimista, todos tocando juntos e fizemos basicamente um take de cada som. Durante a gravação, descobrimos algumas linhas que apareceram e não tinham vindo nos ensaios, mas confesso que a sonoridade nos impressionou e pensamos: sim, temos um disco. O que mais descobrimos foram os sons enquanto levantávamos a gravação. Foi um exercício bem importante. Queríamos um disco bem orgânico. Na mixagem, que fizemos no Estúdio El Rocha com o Fernando Sanches, basicamente colocamos tudo no mesmo registro, mas a captação já tava muito fiel a como queríamos que o disco soasse. Em dois dias gravamos e em um dia mixamos. O processo foi pensado para ser rápido e desapegado.
Há um aspecto imagético no som, que lembra trilha sonora. Qual o estatuto das imagens no som do Salão Extremo?
As imagens inspiram, numa narrativa que por vezes se consolida em música, mas que partiu de uma imagem. “Caminho Torto por Varsóvia” é um exato exemplo disso. A música é uma tradução sonora de uma paisagem vivida em Varsóvia, numa noite de frio e confusa, onde as ruas se misturavam com nomes supostamente iguais e que levavam para um mesmo ponto. Em algum momento me acho, reencontro onde estou, mas descubro que não faz sentido, e me perco de novo, mas agora dentro de um apartamento. Essa música é a trilha de um momento que de fato vivi e traduzi dessa maneira.
Você está abrindo um selo chamado Urubu. Conte-nos um pouco sobre a concepção por trás do selo.
A idéia por trás do selo é conseguir fotografar o que está se passando agora na comunidade experimental de música brasileira e levar isso para fora. Apesar de não gostar do termo “experimental”, acredito que ele define de forma clara. Além de jogar essa música para fora, pra fazer com que as pessoas conheçam um pouco de um Brasil pouco falado, nada estereotipado, mas que acontece com qualidade e intensidade, ao longo de todo país. A idéia partiu de mim e do Dudu [Eduardo Fraga], que hoje mora em Londres e é um grande gestor cultural, com esse objetivo. Mas logo percebemos um segundo objetivo que era catalogar e organizar de forma mais precisa esses discos e artistas. Na frente digital fazemos mais a distribuição e licenciamento. E na frente dos discos, a ideia é produzir alguns no primeiro ano e, se tudo der certo, produzir e lançar já no próximo ano.
Por que abrir um selo independente hoje? Como você percebe o mercado (e os mercadinhos) fonográficos no atual momento?
Acho que o mercado precisa de organização, mas completamente fora da lógica das gravadoras e majors. O mundo digital e a facilidade para produzir que existe em 2016 pede uma descentralização urgente. O pequeno não pode trabalhar para parecer grande ou dentro dessa lógica. O Egberto Gismonti disse numa entrevistas da necessidade que ele tinha de entender o fluxo da obra dele, de como as coisas aconteciam, e fiquei pensando nisso um bom tempo e me questionando se eu, com um trabalho infinitamente menor, não conseguiria ser capaz de me organizar. Vi que sim, que era possível, e que acima de tudo, poderia contribuir para que outros artistas, bandas, conseguissem ter mais controle do que acontece com o seu trabalho. O selo Urubu nasce muito mais pra organizar e promover essa comunidade do que para atuar como uma major.
E em relação aos shows, vocês programam algo especial?
Estamos começando a pensar nos shows. A idéia é tocar em espaços que propiciem o sexteto rolar bem, o que não é tão fácil. Vamos ver o que acontece! A idéia sempre é expandir: primeiro pelo Brasil, América Latina e, depois, mundo.
Arte de Acauã Novais.
*Professor da Faculdade de Educação/UFRJ, autor de “Tom Zé — Estudando o Samba” (Editora Cobogó, 2014).
_______
As editorias de cultura são financiadas pelos próprios leitores do Cafezinho. A doação segue integralmente para os autores das colunas. Se quiser colaborar com essa editoria, clique no botão abaixo.