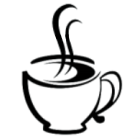Foto: Mídia NINJA
“Temer vai tocar uma agenda antiambiental pesada”
O jornalista e escritor Claudio Angelo transformou sua década e meia de experiência cobrindo a complexa engrenagem política e ambiental em torno da crise climática em A espiral da morte, lançado em março pela Companhia das Letras. O apreço pela abrangência e o sarcasmo presentes na obra ele usa para, na entrevista abaixo concedida por e-mail, fazer tanto um balanço do Governo Dilma Rousseff em matéria de meio ambiente como uma previsão sombria do mandato do interino Michel Temer na área. Angelo é diretor de comunicação do Observatório do Clima, uma rede de 41 organizações da sociedade civil, e está acostumado a seguir as negociações em Brasília. Ainda assim, ele se mostra especialmente preocupado com o legado que a conjuntura atual pode deixar: “O Executivo e o Legislativo estão imunes à pressão que não seja de seus doadores. Deixaram de responder à sociedade”.
Pergunta. Em primeiro de abril, o Observatório do Clima publicou uma notícia-piada sobre o que Dilma poderia anunciar de positivo em uma agenda ambiental. Qual o balanço que ela deixa? Que pontos positivos você ressaltaria?
Resposta. É difícil fazer uma avaliação positiva do Governo Dilma na área de desenvolvimento sustentável. A presidente suspensa tem uma concepção muito arcaica de desenvolvimento, e nela nunca houve lugar para meio ambiente. Queria poder resistir à caricatura, mas o pensamento de Dilma sempre foi muito na linha dos “sovietes e eletricidade”, para usar a frase do Eduardo Viveiros de Castro: infraestrutura pesada, petróleo e gás e um forte agronegócio exportador segurando a balança comercial, tudo funcionando à base de investimentos públicos. Esse combo nos trouxe tanto à situação fiscal atual quanto aos escândalos revelados pela Lava Jato. Para mim, o momento mais revelador do pensamento de Dilma sobre meio ambiente foi em 2012, na véspera da Rio +20, quando ela disse que energia eólica e energia solar eram “fantasia”. Como sabemos, esse apego à ideologia no lugar das evidências é parte da explicação para o impeachment.
P. O que esperar de nomes do ministério Temer, como Blairo Maggi e Sarney Filho?
R. Acho que Blairo Maggi no Ministério da Agricultura pode não ser tão ruim. Ruim foi tê-lo no Senado, relatando a PEC 65, que acaba com o licenciamento ambiental, sendo proprietário de uma empresa de energia que tem interesse em várias hidrelétricas na bacia do rio Juruena. Em que pese a PEC, o Blairo tem um pensamento sobre agricultura mais moderno que o da antecessora, que vem da pecuária – o setor mais atrasado do ruralismo. Por outro lado, Zequinha Sarney para o Meio Ambiente é um bom sinal. Apesar do sobrenome, é uma pessoa muito comprometida com a agenda ambiental e encampou várias brigas no Congresso para retardar retrocessos que acabaram vindo de qualquer forma, porque a correlação de forças é muito desigual.
O problema é que um ministro só pode ser tão bom quanto o Governo ao qual ele serve. E o Governo Temer chega com uma agenda pesada de desregulamentação e “melhora do ambiente de negócios”, que é um eufemismo para mais flexibilização do licenciamento ambiental. É o que está na Agenda Brasil e é o que está na Ponte para o Futuro, os documentos que antecipam a linha do que será o Governo do PMDB. É o que está sugerido no primeiro ato do Governo Temer, a Medida Provisória 727, que cria o tal Programa de Parcerias de Investimentos. O foco deles no curtíssimo prazo é ainda maior que o de Dilma. Então tenho zero esperança de uma mudança para um modelo de desenvolvimento durável nesses dois anos e meio. Vai-se tocar uma agenda antiambiental pesada, com um Ministério do Meio Ambiente ali perdendo batalhas, monitorando o desmatamento na Amazônia, aturando as reclamações das ONGs e posando de bom moço uma vez por ano nas conferências do clima. Esse é o cenário tendencial. É claro que a sociedade civil trabalhará para que ele não se confirme.
P. O que significa Serra ter incluído em suas diretrizes que o que o “Brasil assumirá a especial responsabilidade que lhe cabe em matéria ambiental”? Para que isso se efetive, o que Itamaraty precisa fazer?
R. Significa, antes de tudo, que o Serra está de olho nos eleitores da Marina em 2018 (rs). Mas pode ser a continuação de uma inflexão que começou no Itamaraty com o Celso Amorim em 2007, muito timidamente, e que ficou meio suspensa com a ida do embaixador André Corrêa do Lago para Tóquio. O Brasil, até 2007, sempre se recusara a debater qual era o seu papel na solução da crise climática. A posição era sempre cobrar toda a ação dos países ricos, escorado numa tese maluca de “responsabilidade histórica” pelo aquecimento observado que até hoje é conhecida como Brazilian Proposal. Então, era cobrar dos ricos e ficar aqui recebendo caraminguás de projetinhos do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Em essência, o mote era o direito a poluir em nome do “desenvolvimento”. Florestas, então, eram um tabu: jamais o país topou discutir o papel das florestas no clima. Essa posição, curiosamente, se fortaleceu com um pessoal ligado ao PSDB durante a conferência de Kyoto.
Quando o desmatamento começou a cair, com Lula e Marina Silva, o governo foi flexibilizando essa posição. Em 2007, quando surgiu a proposta do Fundo Amazônia, o país aceitou botar florestas na meta, ainda voluntária. Até que em 2011, na conferência de Durban, sob forte influência do André Lago e da Izabella (Teixeira), o país enfim aceitou negociar um acordo universal, com obrigações para todos. Mas, mesmo depois de Paris, ainda existe muito forte no Itamaraty essa ideia de que o Brasil deve menos do que os outros e fez mais, e que, portanto, não precisa ampliar a própria ambição. Muitos tucanos que originalmente defendiam isso, como o Rubens Ricúpero, mudaram de posição e há anos defendem que o Brasil assuma uma posição mais proativa. Minha impressão é que o Serra está se realinhando com esse discurso da ala mais contemporânea do PSDB. E há um elemento conjuntural a ajudá-lo, que é a derrocada do sonho petroleiro do Brasil. Claro, agora ele precisa “walk the talk”. Três sinais imediatos de que ele está disposto a fazer isso seriam: atuar no Governo pelo imediato ajuste da INDC, o plano climático do Brasil no Acordo de Paris, à luz do novo inventário de gases de efeito estufa; atuar por uma posição forte do Brasil em favor do aumento da ambição da INDC já em 2018, para constranger os outros países e liderar pelo exemplo; e articular com seus ex-colegas de Senado a ratificação do acordo ainda neste ano.
P. Você acha que o Acordo de Paris pode emperrar no Congresso?
R. Tudo pode emperrar no Congresso. O Protocolo de Nagoya sobre biodiversidade, que o Brasil ajudou a negociar em 2010, emperrou no Congresso porque os ruralistas entenderam que iam ter que pagar benefícios à China pela soja, que é uma planta originária de lá. Mas eu acho difícil o Acordo de Paris passar pela mesma barreira, por dois motivos: primeiro, porque Dilma não é mais presidente, e nos últimos anos o interesse do Executivo era praticamente a senha para o Congresso não aprovar um projeto. Segundo, porque setores da própria oposição a Dilma, como o PSDB, já se comprometeram publicamente com o acordo.
P. Você mencionou o novo inventário brasileiro de gases de efeito estufa. Por que deveríamos prestar atenção nele?
R. O inventário é um olhar distante no retrovisor. Ele nos dá as emissões de 2010, enquanto o Observatório do Clima tem um sistema, o SEEG, que dá estimativa de emissões já do ano passado com um grau de precisão muito alto — a diferença entre as estimativas do SEEG e o inventário nos setores de energia e agropecuária para o ano de 2010 é menor que 1%. Mesmo assim, o inventário é fundamental por sua completude, pelo tamanho do esforço, pelo contínuo aprimoramento da metodologia, que é o que permite, por exemplo, calibrar o SEEG.
O Terceiro Inventário traz um dado que é de interesse imediato para o país, porque ele reajusta as emissões de 2005. Aquele foi o ano de referência usado para calcular nossa meta de reduzir emissões em 37% até 2025, apresentada na INDC, o plano climático do Brasil no Acordo de Paris. Só que o dado usado na INDC para as emissões de 2005 foi do segundo inventário, que dava 2,1 bilhão de toneladas de gás carbônico. O terceiro inventário ajusta esse valor para 2,7 bilhões. Ou seja, se mantivermos nossa meta de 37%, o que seria um corte para 1,3 bilhão de toneladas em 2025 (contra 1,5 bilhão emitidos hoje) viraria um aumento para 1,6 ou 1,7 bilhão. A ambição cai porque a emissão no ano-base subiu. O Governo precisa, por transparência e clareza, reajustar a INDC. Ou bem ele assume o 1,3 bilhão como meta e incorpora-o à INDC, ou bem ele aumenta a proporção de corte para 51% para podermos chegar lá.
P. Você acha que há chances dessa PEC que praticamente apaga necessidade de licença ambiental que está no Senado passar de vez?
R. Olha, em outros tempos eu diria que essa PEC é um bode na sala, que foi colocada lá para fazer parecer que o PL do Romero Jucá que cria a figura do licenciamento expresso para qualquer obra considerada “de interesse público” é uma alternativa razoável. Ocorre que os parlamentares aprenderam uma coisa no Governo Dilma: a maioria das ideias malucas deles, “seus sonhos mais selvagens”, como dizem os americanos, acaba sendo viável porque o Governo é fraco. Então, algumas proposições levadas à mesa para fazer barganha acabam emplacando. Foi assim com o Código Florestal e com a Lei 140, que enfraqueceu o Ibama. Qual é hoje a força contrária a isso na sociedade brasileira? Qual é o freio e o contrapeso? Só existem dois: o STF e a Lava Jato. O Executivo e o Legislativo viraram um free-for-all, imunes à pressão que não seja de seus doadores. Deixaram de responder à sociedade.
P. Nos períodos de crise e recessão é ainda mais difícil angariar apoiadores para uma agenda de desenvolvimento sustentável, ao que parece. Que argumentos você usaria para convencer os brasileiros de que essa agenda não deveria ser negligenciada?
R. O Carlos Rittl, secretário-executivo do Observatório do Clima, tem uma frase que eu acho muito boa: a saída para o vermelho está no verde. Investimentos em energia limpa, biocombustíveis, recuperação de florestas e no aumento da eficiência da agropecuária podem ajudar o país num momento em que o modelo tradicional de desenvolvimento nos empurrou para o fundo do poço. O Zé Eli da Veiga, professor da USP, costuma dizer que a expressão “desenvolvimento sustentável” é ruim porque assume que haja outro tipo de desenvolvimento possível. Não há. A conversa sobre meio ambiente há muito deixou de ser uma questão de bichinhos e plantinhas e índios pelados no mato. Estamos falando de empregos e alta tecnologia. A agenda econômica internacional tem se mexido muito depressa nesse sentido: implementar o Acordo de Paris e liberar o tal “espírito animal” do empresariado para tecnologias que vão dos painéis solares às superbaterias — para enfim realizar o sonho da presidente Dilma de estocar vento.
A outra coisa é que não estamos falando mais de mudanças climáticas “que acontecerão”. O clima já mudou no Brasil. Eu moro em Brasília, onde na década de 1980 a gente dormia com cobertor de lã. No último ano eu devo ter passado dez noites, se tudo isso, sem ligar o ventilador no quarto. O número de desastres naturais cresceu. Somente entre 2002 e 2012, o prejuízo acumulado por extremos climáticos foi de R$ 278 bilhões em média, segundo um estudo de pesquisadores da UFRJ. No ano passado, 30% dos municípios brasileiros entraram em situação de calamidade ou emergência por eventos extremos. Então, a questão não é salvar o mico-leão-dourado. A questão é ter uma cidade onde você possa viver, é ter emprego decente, é ter transporte eficiente — para os paulistanos, é ter água na torneira. O debate virou completamente, mas a ficha ainda não caiu muito na sociedade, e não caiu nada no poder público.
P. Os empresários reclamam muito do processo de licenciamento ambiental. Vendo o que acontece em outros países, onde você acha que é possível melhorar?
R. Deixa eu te contar uma história: nos Estados Unidos existe uma lei chamada Endangered Species Act, a Lei das Espécies Ameaçadas. Qualquer obra que venha a causar impacto a uma espécie protegida por essa lei é cancelada. Não é que se encontram “alternativas locacionais” ou “métodos de mitigação”; a obra não é feita. Você acha que o licenciamento no Brasil é radical? As pessoas no setor empresarial e em algumas áreas do Governo tendem a achar que o licenciamento no Brasil é uma jabuticaba, que só existe com esse rigor aqui, o que não é verdade. O que ocorre aqui é que o licenciamento, como tudo o mais no poder público, é muito ineficiente. Não se protege o que se visa proteger, nem dá-se às obras a celeridade que elas precisam ter. Todo mundo perde. Na minha opinião, isso decorre principalmente de dois fatores: primeiro, o licenciamento é feito para cumprir calendário, sem avaliação estratégica. Toma-se antes a decisão de fazer a obra, depois parte-se para o licenciamento, e azar dos fatos se os estudos de impacto ou dos pareceres do Ibama apontam para a inviabilidade da obra — como aconteceu com as usinas do rio Madeira e com a BR-319, no Amazonas. O outro fator, que decorre do primeiro, é que órgãos cruciais no licenciamento como o Ibama e a Funai são mantidos numa situação de desaparelhamento crônico. Então cria-se aquela profecia autorrealizável: o licenciamento é demorado porque o Ibama não tem quadros, então precisamos flexibilizar o licenciamento. Quando o certo seria aparelhar o Ibama. No Brasil funciona tudo ao contrário.
P. O seu livro é uma grande reportagem sobre a espiral do aquecimento global. Urbanismo, segurança alimentar, prevenção de desastres. O mundo está despreparado? Que país está se planejando melhor?
R. O mundo está se preparando, só que os países ricos estão se preparando mais. Um estudo recente publicado se não me engano na revista Nature Climate Change mostrou que a maior parte do dinheiro para adaptação às mudanças climáticas gasto no mundo vai para proteger patrimônio em cidades ricas, como Nova York. Na África, na Ásia e na América Latina isso não está acontecendo. Mas isso é uma adaptação a mudanças graduais e a um aquecimento global de até 1 grau, o que temos hoje, ou 1,5 grau. Os cenários que eu descrevo no livro são de um aquecimento de 2 graus. É um território climático desconhecido pela civilização, e nada pode nos preparar para ele. Nada pode nos preparar para um colapso em décadas do manto de gelo da Antártida Ocidental, que tem risco baixo de acontecer, mas cujas consequências seriam tão graves que a adaptação das cidades costeiras simplesmente não seria possível num prazo curto. Nada pode nos preparar para um aquecimento descontrolado causado pelo escape maciço de metano no mar do Leste da Sibéria. O único jeito de evitar esses cenários com um grau razoável de segurança é zerar as emissões líquidas de carbono do planeta até o meio do século. Hoje poucos cientistas acreditam que vá dar tempo de fazer isso. Mas ainda há muito espaço para inovações tecnológicas nos próximos anos que consigam dar conta do recado. Os próximos cinco anos, nos quais o Acordo de Paris será implementado, dirão se vai ser possível.
P. Brasil está na estaca zero?
R. O Brasil não está na estaca zero. Houve investimentos em defesa civil, houve a criação do Cemaden para fazer alertas de desastres, houve reforço no Ministério da Integração, mesmo no Governo Dilma. Houve também, justiça seja feita, muito investimento federal no primeiro mandato de Dilma na redução de vulnerabilidade à seca no Nordeste — o que é diferente da transposição do São Francisco. Mas o próprio Governo deu sinais trocados o tempo todo sobre adaptação e resiliência. Há três anos, um grupo da Secretaria de Assuntos Estratégicos encomendou, ao custo de milhões de reais, um grande estudo sobre vulnerabilidade e adaptação às mudanças do clima em agricultura, energia, recursos hídricos e outras áreas estratégicas. Aí os resultados começaram a sair e diziam que, por exemplo, não ia haver água nas grandes hidrelétricas da Amazônia já em 2040. Aí o Mangabeira Unger assumiu o ministério, demitiu toda a equipe responsável e só não engavetou o estudo porque a imprensa descobriu a história.
P. De vez em quando há essas oficinas para jornalistas para ajudar a cobrir o tema, transformar em palpável. Onde erramos mais?
R. A imprensa acerta mais do que erra quando resolve cobrir um assunto qualquer. No Brasil, a questão ambiental ainda não é assunto, esse é o erro. É um tema transversal, que deveria interessar a todas as editorias, mas que é tratado de forma subsidiária, circunscrita, aos soluços, quando dá. Aí demitem a editora da Eldorado que cobre o tema, demitem o repórter da Folha que cobre o tema, botam a repórter do Globo que cobre o tema de setorista do Planalto, extinguem o canal da Abril que cobre o tema, e outros jornalistas que cobrem o tema em grandes veículos migram para outras atividades para sobreviver. A crise da mídia é geral, não enxergo um horizonte para os grandes veículos restabelecerem suas equipes no prazo visível. A temática ambiental vai acabar migrando para start-ups de jornalismo, como Oeco, o Infoamazônia e a Agência Pública, como aconteceu nos Estados Unidos com o Inside Climate News e no Reino Unido com o Carbon Brief.