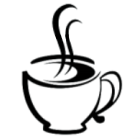Por Bernardo Oliveira*, editor de música do Cafezinho.
Monumento ao soldado desconhecido é o primeiro disco solo do artista plástico e compositor paulistano Eduardo Climachauska — ou simplesmente Clima. Compositor gravado por Elza Soares e Gal Costa, há tempos Clima vem planejando a realização deste trabalho autoral. Quando chegou o momento, preferiu focar nos aspectos sonoros e experimentais, deixando sua obra anterior de lado e apostando em novas ideias. Segundo Romulo Fróes, produtor e diretor artístico do álbum, Clima propôs aos músicos que tomassem como referência o álbum Mora na filosofia dos sambas de Monsueto, gravado em 1962 pelo compositor carioca, composto basicamente por percussão, trombone e coro de pastoras. Escalou Sérgio Machado na bateria, Allan Abbadia no trombone e, substituindo o coro de pastoras, a guitarra de Rodrigo Campos. O resultado é uma verdadeira “incerta” na canção brasileira atual: desconcerta pela ausência de filiação evidente ou de uma temporalidade referencial que permita sua inserção imediata na continuidade histórica da música popular. Um disco ambivalente, que violenta a fluidez da tradicional canção brasileira através da espontaneidade do improviso e de uma poética que podemos chamar de “disruptiva”.
As canções de Clima, neste álbum em parceria com Nuno Ramos, trazem a marca do movimento e da disrupção: mover para cortar; interromper para recomeçar. Um jogo de palavras pode ressaltar uma contradição, um curto-circuito semântico ou suscitar uma sorte de articulação que descarta a banalidade da representação lírica e aposta no poder do tropeço e da gagueira. O cantor no corner da música, incorporado pela “anti-musa”, reveste-se de uma força cortante capaz de retalhar as disposições líricas que cerceam a tradição do samba e da MPB, abrindo caminho para uma outra racionalidade poética. Assim, entrevê-se as influências de Caetano Veloso, Milton Nascimento e João Bosco converterem-se em apropriações desconstrutivas da dicção desses autores, assimiladas pela instrumentação a meio caminho dos arroubos característicos do free jazz (principalmente através da bateria extraordinária de Machado) e de uma pegada minimalista impressa pelo diálogo da guitarra de Campos e do trombone de Abbadia.
Independente do alcance e do reconhecimento, torna-se evidente a cada lançamento que essa dupla de compositores (na realidade um trio, com a participação de Romulo Fróes) inscreve, de forma deliberada, uma sintaxe particular no mapa da canção brasileira. Abaixo, o disco e a transcrição de uma conversa breve com o autor sobre sua música, seu métodos, parceiros e o “soldado desconhecido”.
—
Você tomou como base sonora para seu disco um álbum gravado por Monsueto em 1962. O que te chama atenção nesse disco?
Eu queria fazer um disco onde as questões harmônicas não contassem tanto e esse disco do Monsueto que eu escutei muito na vida, além de todas as suas qualidades extraordinárias, voltou de repente como um toque, uma possibilidade de buscar outro som, um outro jeito de compor diferente do que eu vinha fazendo. E me passou pela cabeça atualizar esse formato tão pouco comum na música brasileira: uma batucada, umas cabrochas, um trombone e só. Minimalista na forma mas com uma força incrível, com aquela batucada toda, uma coisa emendada na outra. Eu cheguei até a gravar uma música instrumental que acabou não entrando no disco. Tinha a voz do Monsueto sampleada fazendo contrapontos com um naipe de metais.
Há nitidamente uma diferença entre seu trabalho como compositor e as canções deste disco. Por que nenhuma regravação? Qual foi a estratégia adotada?
Quando decidi fazer, fiz como em qualquer trabalho nas artes plásticas: como se ele fosse uma exposição nova e não uma retrospectiva. Eu perco rapidamente o interesse pelas coisas que fiz. Quando um espaço se abre quero logo ocupá-lo com algo novo. Por outro lado, queria que o disco tivesse uma unidade poética e sonora. Esse foi um dos motivos pelos quais escolhi fazer apenas a música, entregando as letras pro Nuno Ramos. E queria também que o disco fosse singular, que eu pudesse de alguma forma trazer pra cena elementos que ainda não estivessem em jogo na música que faço com meus parceiros. Queria também apostar em outros procedimentos.
Como a questão visual que toma sua outra atividade, as artes plásticas, influencia/interfere no trabalho de compositor.
Na prática, uma atividade interfere na outra constantemente. Acho que isso me dá uma liberdade, cria um ruído bom que me permite embaralhar um pouco o jogo. Mas a visão que se tem do processo talvez seja diferente. Algumas pessoas me disseram que fiz um disco “de artista plástico”, mas nunca me falaram, por exemplo, que eu tenha feito uma exposição “de compositor”. Um outro exemplo: quando pensei na formação, não me ocorreu incluir o baixo. Não foi uma decisão consciente, eu simplesmente não pensei num baixo na formação, o baixo que conduz a harmonia, a coisa rítmica, dá pressão no som, etc. Uma forma talvez pouco musical de conceber o som. Mas o fato é que nunca senti falta dele, nem agora depois de pronto, mixado e tal. Ainda outro exemplo: é quase natural pra mim dar título aos meus trabalhos plásticos fazendo referência à alguma música: “Ilusão à toa”, “Felicidade de arranha-céu”, “Bim bom”, “Ho-ba-la-lá”, etc. Não busco isso, simplesmente aparecem assim. E eu acho que na estrutura dos trabalhos também entra em jogo questões rítmicas, harmônicas, que têm conexão com minha escuta e prática musical.
Cantar é uma atividade natural para você? Que tipo de experiência marca sua relação com a voz?
Tocar violão, cantar os sambas favoritos de uma forma diletante vem desde a adolescência no Ipiranga onde nasci. Lá tinha umas rodas de samba. Eu cantei e toquei um pouco no primeiro disco e nos shows do Romulo Fróes, as pessoas gostaram. Me senti um pouco mais confiante depois disso e agora veio essa experiência do primeiro disco e show. Mas confesso que é um bocado tenso ver na platéia ali na frente, por exemplo, uma cantora extraordinária como a Juçara Marçal. E você ali cantando pra ela… Isso é muito novo pra mim, essa exposição direta.
Foto: Nino Andrés
Fale um pouco como foi a gravação do disco. Como escolheu os músicos? Você fez recomendações específicas para eles?
Com as canções na mão, a primeira coisa foi procurar o Romulo pra fazer a direção artística e em seguida o Rodrigo Campos, por quem tenho grande admiração, pra estruturar aquilo. Eu não tinha propriamente canções, o que eu tinha era uma coisa que chamei de vinhetas, muito simples, sem partes definidas. Com exceção das marchinhas, eu tinha basicamente as melodias letradas. O Rodrigo achou aquele caminho da guitarra minimalista, sem afetação, e resolvemos que eu também tocaria uma segunda guitarra, marcando a melodia e abrindo um pouco aqui e ali. A escolha do Serginho Machado foi consensual, mas fizemos um teste antes pra saber se aquela bateria que eu tinha imaginado funcionaria no disco. Eu parti de improvisações pra compor as músicas e achei que a bateria devia seguir esse caminho, com alguma coisa próxima do jazz, sem ser jazz. Tocamos duas músicas com ele e aí pedi pra parar. Pra mim era perfeito e eu não queria a coisa ensaiada. As outras músicas o Serginho escutou já no estúdio. Uma tomada pra ensaiar já gravando, duas ou três mais e acabou. Em quatro sessões eu, Rodrigo e Serginho gravamos todas as bases. Com o Allan Abbadia a coisa foi ainda mais radical. Sem conhecer as músicas ele gravou oito faixas em cerca de uma hora e meia. Depois eu e o Romulo colocamos as vozes. Estávamos todos livres pra criar, pra improvisar. Eu acho que escolhemos os músicos certos pra o que eu queria fazer porque também são criadores. Havia uma orientação básica com o Rodrigo, pra que a coisa fosse se modificando à medida que o som avançasse. E a confiança cega no Romulo quando pintavam as dúvidas. O Serginho eu queria totalmente solto. Aliás, na gravação, pra seguir com a minha guitarra, eu só prestava atenção no Rodrigo. Eu queria me descolar da bateria. Eu não sabia bem o que esperar do Allan e queria em princípio uma coisa mais agressiva, mas ele veio com esse som fino, elegante e percebi logo que ele estava certo, não eu.
E como você caracterizaria o trabalho com os parceiros Nuno Ramos e Romulo Fróes? Digo, o que você percebe de característico nessas parcerias?
Bem, de cara, com o Romulo até hoje só fiz as letras e com o Nuno só as músicas. Quando nós três compomos juntos, quase sempre a música é do Romulo, eu e o Nuno desenvolvemos a letra. Quando o Romulo me manda alguma coisa, tento sempre avançar algo, experimentar alguma coisa que não havia feito anteriormente. Acho que há um caminho claro aí que vai de uma coisa mais referencial no primeiro disco dele, o Calado, pra uma coisa mais abstrata nos últimos trabalhos. Com o Nuno, eu tento me adaptar ao texto dele, sem interferências. Não faço cortes nem adaptações. E o Nuno é prolixo, né? Acho que isso força a música pra um lado não natural, mais estranho, que eu busco e me agrada.
Quem é o soldado desconhecido da música popular brasileira?
Acho que tem um exército inteiro, né? Mas pra citar um só, tem o Nuno Velloso, que dizem que fez mais de duzentos sambas com o Cartola e foi assistente do Herbert Marcuse na Alemanha. Enquanto esteve lá, parece que o Cartola mandou pra ele todo ano no carnaval a fantasia da ala da Mangueira. Isso foi antes do “Eros e Civilização”. Quando ele voltou da Alemanha, morou um tempo na casa do Nelson Cavaquinho… Ainda está vivo e dá aulas…
*Professor da Faculdade de Educação/UFRJ, autor de “Tom Zé — Estudando o Samba” (Editora Cobogó, 2014).
_______
As editorias de cultura são financiadas pelos próprios leitores do Cafezinho. A doação segue integralmente para os autores das colunas. Se quiser colaborar com essa editoria, clique no botão abaixo.