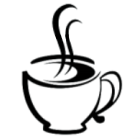Dólar e tecnologia militar: a economia política do poder americano, por João Fábio Bertonha
No blog da revista Mundorama (Revista de Divulgação Científica em Relações Internacionais).
Já há décadas o espectro da decadência do poder americano assombra o cenário político daquele país e suscita discussões em boa parte do mundo, acostumado a viver no sistema político e econômico centrado em Washington e/ou o questionando. Depois da crise de 2008, o mesmo aconteceu e o noticiário se encheu de análises a respeito da inevitável decadência do Império americano, a ser substituído pela hegemonia chinesa ou pelos BRICS. Do mesmo modo, a crise financeira determinaria o colapso do capitalismo liberal e financeiro de base norte-americana e o dólar seria, inevitavelmente, substituído como moeda de reserva global, enquanto Wall Street perderia seu posto para Shangai ou alguma outra cidade da China.
Em resumo, a economia americana seria convulsionada por uma crise financeira de proporções apocalípticas e cujas origens teriam que ser buscadas na própria formatação do capitalismo americano contemporâneo, com sua falta de regras e controles e uma dependência excessiva do financeiro sobre a produção. E, no campo político, a credibilidade dos EUA como potência global teria sofrido um golpe fatal depois das inúteis guerras de George W. Bush no Afeganistão e, especialmente, no Iraque.
Quase oito anos depois, a capacidade dos EUA em descarregar nos outros os custos dos erros cometidos e recuperar a sua hegemonia acabou por se revelar muito superior ao previsto. O Oriente Médio está em chamas, a América Latina volta à estagnação e a Europa se suicida nas suas políticas de austeridade. Os Estados Unidos, contudo, foram capazes de se recuperar, mesmo tendo sido o epicentro da crise atual. Uma recuperação tímida e incerta, mas de relevo, especialmente frente ao desastre europeu.
Para tanto, o Banco Central dos Estados Unidos (FED) e o Estado americano foram muito hábeis ao explorar ao máximo alguns dos principais elementos do poder americano e a sua posição de centro do sistema capitalista mundial.
O Banco Central americano esqueceu, em primeiro lugar, dos preceitos liberais que eles sempre proclamaram como os únicos capazes de trazer a prosperidade e de resolver as crises do capitalismo. Por tais preceitos, a solução em épocas de crise sistêmica é controlar o déficit público e equilibrar o orçamento a qualquer custo, de forma a restaurar a confiança dos mercados. Uma receita suicida, pois o equilíbrio das contas públicas num contexto de crise acaba por gerar menor arrecadação, o que implica em mais cortes e menor arrecadação, num círculo vicioso destrutivo. A austeridade na Europa, o drama grego e o segundo mandato de Dilma confirmam isso.
Os EUA, contudo, não hesitaram em fazer o oposto. Já em 2008, o FED começou a comprar títulos de Estado e a inundar o mercado de dólares, imprimindo dinheiro num total de cerca de 3,5 trilhões de dólares. Tal injeção de dinheiro estimulou a demanda interna, diminuiu os juros e enfraqueceu a moeda americana, estimulando as exportações. Em teoria, isso deveria gerar inflação, mas o fato de o dólar ser a moeda de reserva mundial permitiu ao FED transferir o ônus dessa maciça emissão de moeda aos outros.
Com efeito, à medida que a moeda americana se depreciava, a China, o Japão e inúmeros outros países começaram a comprar grandes quantidades de dólares, de forma a impedir que suas moedas se valorizassem em excesso. A quantidade adquirida mais ou menos se equivale à emitida pelo Banco Central dos EUA, o que significa que esse pôde conter os estragos da crise internamente sem gastar, no fim das contas, um centavo próprio.
Mais tarde, depois de 2013, quando o FED sinalizou que iria reduzir a massa monetária e aumentar os juros, somas investidas nas bolsas de valores dos países emergentes retornaram aos Estados Unidos, o que levou à depreciação cambial de várias moedas pelo mundo. Aumentando ou reduzindo os juros, desvalorizando ou valorizando a moeda, o FED agiu na defesa dos interesses da economia americana, sendo supérfluas ou inúteis as queixas do resto do mundo a respeito.
Isso já havia acontecido antes. Nos anos 1980, por exemplo, Ronald Reagan aumentou a despesa federal americana, especialmente através de um programa maciço de rearmamento, para fazer frente à União Soviética e reanimar a economia nacional. Manipulando os preços dos seus títulos de dívida, os juros e o câmbio e pressionando os Bancos centrais dos países aliados a secundarem seus movimentos, a administração Reagan reergueu a economia dos EUA e colocou seu rival estratégico na parede, sem custos excessivos ao contribuinte americano. Já durante a “guerra ao terror”, foi a maciça aquisição de títulos por parte de chineses e japoneses que permitiu sustentar as despesas sem custos excessivos internamente. Apenas exemplos de uma situação que se repetiu várias vezes nas últimas décadas.
É esse o chamado “privilégio americano”, ou seja, os Estados Unidos podem adquirir qualquer bem que desejem no mundo simplesmente imprimindo moeda. E, além disso, eles podem se endividar para atender os seus interesses com a certeza de que os termos desse endividamento serão decididos por eles, os devedores. Leis que se aplicam a todos os países não servem para os EUA, os únicos que podem conseguir a principal divisa internacional simplesmente ordenando a sua impressão.
Por fim, como é evidente, a centralidade do dólar e do sistema financeiro americano é uma arma em si, permitindo, caso seja do interesse de Washington, golpear profundamente seus adversários simplesmente negando o acesso a esse sistema e/ou manipulando suas moedas e outros ativos.
Por que, contudo, vários países se dispõem a sustentar o poder americano e o nível de vida dos EUA? Alguns, por motivos políticos, como quando alguns países árabes, asiáticos ou europeus aceitaram comprar mais títulos americanos em nome da luta contra o anticomunismo ou como preço pela proteção americana, como quando da guerra do Golfo, em 1990-1991. Seria uma vassalagem econômica típica, de pagamento por proteção ou para garantir a segurança. O espantoso, nesse processo, é que mesmo países rivais aos EUA, como a China, acabam entrando nesse esforço coletivo de sustento à economia americana.
Isso acontece porque os EUA ainda se beneficiam da sua vitória na Segunda Guerra Mundial e na Guerra Fria. Ao se tornarem o centro do sistema capitalista e ao converterem a sua divisa nacional em reserva internacional, os EUA tornaram o mundo viciado em dólares, num círculo de dependência que afeta a todos.
A China, por exemplo, compra a moeda americana, através dos títulos do tesouro, em grandes quantidades, de forma a evitar a sua depreciação, que poderia prejudicar as exportações chinesas. Depois de reunir uma reserva da ordem de trilhões de dólares, o Banco central chinês também não pode permitir que ela perca seu valor e, portanto, as aquisições continuam para evitar a depreciação do dólar e para manter as reservas chinesas ancoradas no asset mais seguro do mundo, os T Bonds. O mesmo se repete no Japão, no Brasil e em outros países. Se o mundo sustenta os EUA, eles também sustentam o vício do mundo em dólares.
A pergunta que fica é: porque não abandonar então a obsessão pelo dólar e criar outra moeda de reserva global, seja o yuan (rembinbi) chinês, o euro ou uma combinação de dólar, euro, rublo, yuan, iene e outras moedas? Isso é o que parecia estar acontecendo, mas o dólar não perdeu o seu primado, como previsto, e, ao contrário, como visto, reforçou a sua hegemonia.
O primeiro motivo, como visto, é que o dólar se espalhou pelo mundo, desde a Segunda Guerra Mundial, e substituir uma divisa já amplamente utilizada como moeda de reserva global seria custoso e difícil. O segundo é que não há alternativa segura ao dólar. Os Estados Unidos são o centro do sistema capitalista e financeiro mundial e, se os títulos emitidos pelo seu Tesouro ou a sua moeda entrarem em colapso, esse seria um sinal de que o sistema como um todo naufragou. Mesmo quando a crise financeira teve, por epicentro, a América, é para lá que os investidores do mundo todo correram em busca de estabilidade e segurança.
Além disso, a segurança institucional do sistema americano (feito, afinal de contas, para garantir o business) garante aos investidores do mundo todo que seu dinheiro está seguro. Mesmo quando o Congresso e a Presidência do país não entram em acordo, quando os níveis de dívida ou déficit se elevam ou quando as agências de risco criticam o FED, todos sabem que o dinheiro depositado nos bancos não será confiscado e que os títulos do Tesouro serão honrados. Por pior que esteja a situação, os Estados Unidos seriam os últimos a sucumbir a uma catástrofe na economia global e, portanto, não espanta que todos prefiram as cédulas verdes.
Além disso, a estabilidade e a segurança do dólar também se originam da supremacia estratégica e militar dos Estados Unidos. O domínio que o Pentágono exerce sobre o mar e o ar, sobre as rotas comerciais que fazem funcionar a economia mundial, as fontes de petróleo e outros elementos de poder também fazem a diferença. O resto do mundo sabe que a moeda americana tem a retaguarda de uma economia poderosa e, especialmente, de um Estado política e militarmente hegemônico.
Esse é um dos motivos da derrocada do euro como um possível rival ao dólar. A criação do euro foi, entre outras coisas, uma tentativa de criar um “privilégio europeu” ao lado do americano. O euro, contudo, revelou-se uma moeda sem Estado, ou melhor, uma moeda através da qual um Estado, a Alemanha, se impôs no continente. O problema é que a Alemanha não tem o cacife militar e estratégico para sustentar o euro mundialmente e nem tem interesse nisso, já que sua economia se baseia na exportação e nos superávits comerciais e a difusão mundial do euro demandaria justamente o contrário.
O euro tinha uma boa imagem, uma aura de futura moeda global e houve demanda por ele quando de sua criação. Depois que o projeto europeu entrou em crise, quase terminal, houve uma reversão e a caminhada do euro como moeda global foi interrompida. Isso aconteceu, como visto, tanto pelas decisões dos líderes europeus, especialmente os alemães, como por um problema de fundo, estrutural: o dólar tem, atrás de si, os porta-aviões e os fuzileiros navais dos EUA, enquanto o euro não tem sequer um Estado.
No caso da China, talvez um dia o yuan se torne moeda global, com uma sólida economia chinesa e as Forças Armadas da China como alicerce. Por agora, contudo, os chineses ainda precisam dos superávits comerciais para sustentar sua economia e preferem, pois, continuar a entesourar dólares, ainda dentro do sistema americano.
Sem a hegemonia militar, portanto, a supremacia do dólar seria mais difícil. Talvez, dada à inexistência de alternativas sólidas, ela pudesse existir, mas a superioridade estratégica é um elemento de peso na sua manutenção. É evidente que os EUA não são uma potência militar unicamente para manter o valor do dólar, mas a sua condição hegemônica facilita enormemente o trabalho do FED.
E os Estados Unidos parecem decididos a manter essa hegemonia. Depois de longas guerras de contra-insurgência no Iraque e no Afeganistão, a tendência no Pentágono parece ser a de manter a vantagem tecnológica e estratégica dos EUA frente a seus rivais. O abandono da estratégia de estabilizar países, difundir a democracia, etc. era quase inevitável frente aos seus êxitos microscópicos, aos custos e a hostilidade da opinião pública americana a guerras prolongadas. Mas também contou um fato simples, ou seja, que combater terroristas ou guerrilheiros não garante a hegemonia estratégica global, enquanto controlar os oceanos, o ar, o espaço e o mundo virtual sim.
A mudança se corporificou na offset strategy, ou estratégia de compensação. Segundo ela, à medida que os grandes rivais – a Rússia e a China – modernizam as suas forças armadas, os Estados Unidos devem reagir utilizando uma superioridade tecnológica e tática a ser mantida a qualquer custo e privilegiando a Força Aérea e a Marinha, em detrimento do Exército.
Para financiar isso em um momento de cortes no orçamento federal, o sistema militar americano pode contar, contudo, mais uma vez, com a hegemonia do dólar para manter o orçamento do Pentágono sem penalizar demais os contribuintes. Sem a possibilidade de se financiar imprimindo moeda e emitindo títulos de dívida a serem comprados pelos estrangeiros, o peso de um imenso orçamento militar cairia totalmente no contribuinte americano, o que geraria mais protestos e questionamentos políticos.
O dilema central do gasto militar, na verdade, é sempre esse: convencer a opinião pública da sua necessidade. Uma ditadura pode, em princípio, manter alta a despesa militar sem se preocupar com o que pensam os cidadãos. Em regimes, contudo, nos quais a opinião dos contribuintes tem que ser levada, minimamente que seja, em conta, convencê-los dessa necessidade é, realmente, algo imperativo.
Em um caso de invasão ou ameaça iminente, por exemplo, as pessoas se dispõem a se sacrificar para apoiar a defesa nacional. Em caso contrário, as despesas em defesa parecem supérfluas ou inúteis frente a necessidades mais imediatas, como saúde, educação e moradia. É o famoso dilema “canhões ou manteiga”, nunca superado.
No caso da China, por exemplo, o crescimento dos gastos militares, em termos absolutos, tem sido contínuo nas últimas décadas. Como o yuan, como visto, não é uma moeda com a demanda internacional do dólar, é o contribuinte chinês que tem sustentado esse aumento. Não há, contudo, grandes questionamentos a respeito. Em primeiro lugar, porque a política chinesa está firmemente nas mãos do Partido Comunista e não há um eleitorado a conquistar. Em segundo, porque o regime comunista chinês apela, cada vez mais, ao nacionalismo como fonte de legitimidade, um nacionalismo que tem impacto num país orgulhoso de seu crescimento e da superação do passado colonial. Por fim, e talvez o mais importante, o PIB chinês tem crescido num ritmo tão acelerado que as despesas militares podem aumentar sem que isso afete a melhora dos níveis de vida, da infra-estrutura, etc. Através do crescimento econômico contínuo, os chineses estão conseguindo a manteiga e os canhões de que necessitam, ao menos no presente momento.
A Rússia também ampliou muito as suas despesas militares e a combinação de autoritarismo e nacionalismo também facilita o convencimento dos russos de que isso é necessário. O alto preço do petróleo na primeira década do século XXI também foi fundamental, contudo, para que esse fortalecimento das forças armadas se desse sem que houvesse necessidade de cortes nos programas sociais. A crise econômica russa atual, associada a um aumento ainda maior nos programas militares, torna essa equação, contudo, muito mais problemática do que antes.
Minha análise é que, salvo alguma mudança no cenário econômico, Moscou não conseguirá sustentar tais programas por muito tempo, ao menos não no nível atual. O crescente protagonismo internacional do Kremlin demanda que o fortalecimento militar prossiga, mas pode ser também uma tentativa de inflamar a opinião pública, tornando-a mais permeável aos inevitáveis sacrifícios necessários para o sustento dos militares.
O caso europeu é, talvez, o mais emblemático desse dilema. A economia européia está a sofrer pesadamente desde a crise de 2008. Sem querer entrar em detalhes sobre esse processo, basta identificar como, num contexto de cortes das despesas públicas, o aparato militar foi um dos mais afetados. Os europeus, em linha geral, gostariam de dispor de forças militares adequadas para que a Europa tivesse voz no mundo. No entanto, refratários a qualquer coisa que recorde o nacionalismo exacerbado e o militarismo de décadas atrás (que tanta destruição trouxe ao continente), os europeus não estão dispostos a pagar os custos disso, especialmente num momento de crise. O resultado é o contínuo enfraquecimento de suas forças armadas.
O Brasil, provavelmente, está perto do caso europeu. No governo Lula, com a economia em crescimento, transferir recursos para a modernização das forças armadas não causou grandes polêmicas e o processo se iniciou. Agora, com a economia em contração e cortes na despesa pública, imediatamente o aparato militar se torna supérfluo para a opinião pública e o Estado. Entre diminuir ainda mais os minguados recursos para a educação, a saúde e os programas sociais e cortar programas de caças ou submarinos, a resposta política caminha sempre para a segunda opção, até porque a socialização das massas no nacionalismo, no caso brasileiro, nunca aconteceu, salvo no futebol.
De qualquer forma, o que aproxima todos esses casos é que nenhum dos Estados mencionados tem condições de transferir o custo para a sua recuperação econômica ou para manter seu sistema militar para outros e é esse o privilégio maior dos EUA. No caso americano, realmente, talvez fosse difícil convencer boa parte da população da necessidade de investir nas forças armadas. Os Estados Unidos são um país no qual o sentimento nacionalista, de orgulho pela importância do país no mundo, é muito presente e muitos americanos estariam dispostos a aceitar que seus impostos fossem direcionados ao Pentágono. Não obstante, a distribuição de renda extremamente desigual dos Estados Unidos (em comparação a outros países ricos) deixa uma grande parcela da população em situação social e econômica frágil. A possibilidade que muitos eleitores votassem a favor de mais gastos sociais e menos gastos militares, alterando a postura do governo, seria, nesse contexto, razoável.
Isso não se dá apenas pela dominação ideológica, midiática, mas porque boa parte das centenas de bilhões de dólares gastos pelo Pentágono por ano não saem diretamente dos bolsos dos cidadãos do país. Com o “privilégio do dólar”, os EUA podem ter manteiga e canhões sem pressionar demais a sociedade.
Nesse cenário, a supremacia do dólar permite a manutenção do poder militar e da estrutura econômica e geopolítica mundial, centrada nos EUA. Ao mesmo tempo, é a solidez dessa estrutura e desse poder militar que dão sustento à moeda dos EUA enquanto divisa global. No dia em que as cédulas verdes perderem importância ou em que a supremacia tecnológica dos militares americanos for posta em cheque, esse modelo de auto-alimentação poderá entrar em colapso. A curto e médio prazo, contudo, isso não está no horizonte.
Bibliografia
Fabbri, Dario. Burro e cannoni: Il segreto del dollaro è la grandezza dell´America. Limes – Rivista italiana di Geopolitica. 2: 23-32, 2015.
De Cecco, Marcello; Maronta, Fabrizio. Il dollaro non teme rivali. Limes – Rivista italiana di Geopolitica. 2: 47-52, 2015.
Dottori, Germano. Il dollaro, l´altro pilastro della supremazia americana. Limes – Rivista italiana di Geopolitica. 4: 205-212, 2015.
Petroni, Federico. La guerra delle dotrine militari. Limes – Rivista italiana di Geopolitica. 4: 175-192, 2015.
João Fábio Bertonha é Professor Doutor do Departamento de História da Universidade Estadual de Maringá (fabiobertonha@hotmail.com)