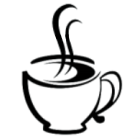CORRESPONDÊNCIA
Carta nº 1 – por Reinaldo Moraes
No blog do IMS | 05.06.2013, 14:36
Prezado Alvaro Costa & Silva, plenipotenciário Marecha da boemia braba, Alvinho das candongas, meu querido Alvarenga de copos e literaturas paratienses, que teve como padrinho de batismo ninguém menos do que Nelson Cavaquinho, sob a guarda e os sovacos do Cristo Redentor, salve-salve.
Tem três (03) prédios em diferentes estágios de construção ao redor do meu, nesta região do Jardim Paulista na qual venho habitando há uns 10 anos já, entre a Nove de Julho e a Brigadeiro, e que passa por um acelerado processo de copacabanização. No quarteirão da minha rua só sobraram duas casotas geminadas nas quais funcionam uma lavanderia e um ateliê de costura. Soçobrarão em breve, disso não há dúvida.
Digo isso porque o tema musical desta hora matinal, ao invés de uma melíflua bossa-nova, como seria mais adequado, estando eu a dialogar com um consumado carioca, é uma serra elétrica a cortar metal. É um tipo de estridência muito diferente da serra que corta madeira, ou das furadeiras de um modo geral, como aprendi a diferenciar nestes longos anos de convivência com obras. É de esgarçar os tímpanos de qualquer vivente. Mas assisti há pouco pela janela à chegada de umas betoneiras gigantes na frente de outra obra, na rua de trás, de modo que daqui a pouco teremos o ronco grave, em altíssimo volume, que faz tremer paredes e coronárias, do concreto sendo bombeado pro alto da estrutura de madeira e ferro que a cada 20 dias, mais ou menos, sobe um andar. O que tiver sobrado dos meus tímpanos esgarçados pela serra elétrica logo será pulverizado pelo estrondo contínuo das betoneiras.
Ah, sim! Agora alguém ligou uma britadeira em algum dos prédios. Deve ser no que já está todo concretado, ao lado esquerdo do meu. Eles concretam e depois desconcretam algumas partes da estrutura com a britadeira. Devem gostar do barulho dos infernos que isso provoca. Posso ver essa obra pela janela sem sair do meu posto de trabalho. Tem uns peões de capacete de plástico amarelo pendurados em andaimes, revestindo de cimento os tijolos furados da empena lateral do prédio. Em outros tempos eu sentiria algum tipo de culpa de classe por estar aqui exercendo a nobre arte da escrita subliterária pra ganhar num dia de trabalho de quatro ou cinco horas o que os menos qualificados desses operários devem ganhar por mês. Mas a gente se acostuma com tudo, assimila tudo, suporta tudo, numa grande metrópole do capitalismo terceiro-mundista selvático-avançado, com serra elétrica, betoneira, sirenes, buzinas, motores, rotores, terrores e tiroteios em geral.
Tiroteio, então, tá em alta por aqui. Sempre esteve, mas agora está mais. Ontem, na av. Paulista, que fica umas seis ou sete quadras acima da minha rua, uns malas tentaram roubar um cara que tinha acabado de sacar uma grana do banco. Rolou tiro à vontade, à luz do dia, ferindo a vítima, um segurança do banco e um PM. Dessa vez nenhum passante foi atingido. E ninguém morreu, parece, ao contrário do mesmo tipo de assalto – a chamada “saidinha do banco” – que, anteontem, terminou com a vítima levando um tiro fatal no meio da cara. Era um baiano de Vitória da Conquista, servente de um colégio chique de Higienópolis, que havia acabado de sacar três contos num banco pra financiar as obras de sua casa própria na perifa. Tava lá a foto do infeliz tombado de bruços no asfalto, à vista dos transeuntes que passavam na calçada, enquanto os bandidos se escafediam de moto. Toda a sequência do crime, a rendição da vítima e seu fuzilamento, foi filmada por câmeras “de segurança” da rua, grandes aliadas da sociedade do espetáculo, mas incapazes de inibir crimes bárbaros cometidos todo santo dia na cidade.
Saltando de pato a ganso, lembro da primeira vez que fui pro teu Rio de Janeiro, em 1968, no fusca azul do meu pai. Yes, um volks-volkswagen blue, como o do pai do Gilberto Gil, naquela música gravada pelo baiano tropicalista alguns anos depois da minha bestreia no Rio, creio que em 1971. Ocorre que eu tinha um amigo carioca, vizinho de casa, no Butantã, e foi pra casa da família dele, um apê da Barata Ribeiro, a poucas quadras do mar, que rumamos tão logo nos livramos da interminável avenida Brasil. Meu velho Marecha, nem posso descrever a emoção de pisar em solo carioca pela primeira vez, aos meus 18 aninhos não muito puros, mas bastante bestas. Sendo assim, não descrevo, até pra não tropeçar em pieguices e obviedades de que só um paulista basbaque é capaz. (Uma bióloga, em Manaus, a quem eu tinha acabado de contar que era de São Paulo, me disse um dia: “Chiii! Paulista, nem a prazo nem à vista!”) Mas posso te contar, sem sombra de devaneios literários, qual foi a primeira coisa em que pensei ao confrontar-me com a paisagem que te cerca aí todos os dias na tua carioquíssima vida: Leila Diniz.
Onde está Leila Diniz? – eu me perguntava. Em que rua ela mora, em que praia ela se banha, em que bar ele toma chope? E a principal pergunta, feita de sonho e ilusão, e formulada aqui em antiquada mesóclise: amar-me-á Leila Diniz se a encontrar numa rua de Ipanema?
Leila Diniz se instalara um ano antes como musa tutelar da minha libido pós-adolescente, quando assisti ao filme do Domingos Oliveira, o clássico Todas as mulheres do mundo, a mais deliciosa comédia lírica de todos os tempos e lugares. A primeira vez que vi a fita, não consegui desgrudar da poltrona depois do FIM. Fiquei pra ver a sessão seguinte, mesmo ao preço de suportar um daqueles documentários-coxinha do intragável Primo Carbonari que antecediam as sessões de cinema na época. Qualquer sacrifício valia a pena para ver o sorriso da Leila Diniz enquadrado por seus zigomas joviais, o corpaço moreno da Leila Diniz de roupa, de biquíni e sem roupa ou biquíni, a simpatia sobrenatural da Leila Diniz, a contracenar com o macunaímico Paulo José. Era tão linda a Leila Diniz, que nem dava pra notar, num primeiro momento, o quão boa atriz ela era. Eu queria ser o Paulo José, ter a manha que o personagem dele tinha com as mulheres, ter a namorada que ele tinha no filme do Domingos Oliveira, que outra não era senão a Leila Diniz.
Eita ferro, como diz meu amigo Marcelino Freire, escritor pernambucano apaulistado.
Ao invés de chorar aqui de saudade da Leila Diniz, acabo de pescar no Youtube a sequência de abertura do Todas as mulheres do mundo, na qual a Leila nem aparece, na verdade. Descrevo a sequência pra avivar sua memória, e também pra encher um pouco de lingüiça aqui, confesso. (E maldito seja o revisor que ousar tirar o trema da minha lingüiça. Meter-lhe-ei a dita lingüiça pelo orobó adentro!)
É assim: sob um fundo musical de bandinha de circo, ouvimos a voz radiofônica de um narrador, coberta por imagens de almanaque: anjinho barroco, ilustração de torturas arcaicas, uma charge do Jaguar mostrando um homem seminu numa microilha solitária, fotos de gente antiga etc. Diz o narrador, em off: “O amor consome a liberdade… castra a autoiniciativa… conduz à acomodação… destrói a individualidade….leva à fraqueza. Seja só. O homem mais forte é o que está mais só!”
Vemos então o Flávio Migliaccio sentado numa pedra à beira-mar, talvez no Arpoador, não sei, amargando sua solidão diante do imenso mar carioca verde-esperança sob um céu azul de brigadeiro, em que pese o branco & preto da película. Eis que o grande ator de grandes filmes brasileiros – outro filme, também comédia, com o Flávio Migliaccio, de que me lembro com saudade, é O homem que comprou o mundo, do Eduardo Coutinho, da mesma época do Todas as mulheres do mundo –, eis que o emblemático ator, eu dizia, se volta pra câmera, num lance metalinguístico bastante inusitado e moderno na época, e me solta essa: “Não dá pé.”
E o que é que não dá pé? O Flávio logo explica:
“O amor não dá pé.”
Hahaha!
(Goethe nunca escreveu “hahaha!”. Proust também não. Nem Rubem Braga. Mas eu sou um escriba menor, perdoai!)
Leila Diniz aparecia somente alguns minutos depois de o filme começado, pra nunca mais desaparecer da minha vida. A sequência é uma festa na casa do Paulo José. Ela abre a porta do apartamento para ser enquadrada em close pela câmera do Mário Carneiro, o grande fotógrafo da fita. Séria a princípio, com meio rosto ensombrecido, ela merece o comentário em off do próprio Paulo José: “O que que uns olhos têm, que outros não têm?” Em seguida a musa máxima da cinematografia brasileira tem o rosto iluminado por inteiro e abre um sorriso – o mítico sorriso de Leila Diniz! –, ensejando outro comentário do mesmo personagem: “O que que um sorriso tem, que outros não têm?”
Pois é.
E agora prepare-se pra morrer de inveja, meu velho Alvarenga: seu amigo aqui viu de perto o sorriso de Leila Diniz. Fui, aliás, o alvo daquele sorriso, na avant-premiére de um tremendo abacaxi estrelado por ela, o Madona de cedro, no hoje extinto cine Metro, na av. São João. Eu teria o que, uns 19, 20 anos? Tinha ganhado um convite pra estreia festiva do Madona através do filho do produtor do filme, que era paulista e colega de um vizinho meu de rua. Pra minha estuporante surpresa, acabei sendo apresentado à minha musa suprema, que não só sorriu pra mim, como também depositou duas preciosas beijocas nas minhas faces pálidas de comoção cinerromântica. Notei, com certa perplexidade e algum desapontamento, que aquele monumento vivo à mulher carioca, nascida embora em Niterói, era branca como uma sueca de cabelos castanhos. Havia meses que aquela pele – pele, não: cútis! – não via um sol ipanemenho. Mas era ela ali na minha frente, a mulher que sintetizou todas as mulheres do mundo para toda uma geração de jovens sentimentais e priápicos deste Brasil varonil – Leila Diniz!
Acho que sou um cara de sorte, meu caro Marecha. Fui osculado e osculei Leila Diniz. E, apesar de já ter sido assaltado a mão armada várias vezes aqui no planalto de Piratininga, nunca fui vítima de um latrocínio, como o coitado daquele baiano em Higienópolis, razão pela qual tô eu cá a puxar antigas nostalgias, valendo-me de vossas benevolentes oiças.
E, por hoje, basta.
(Mas, afinal: o amor dá ou não dá pé, meu onissapiente Marechal?)
De seu amigo, criado e admirador,
Reinaldo Moraes
* Reinaldo Moraes é escritor, autor de Pornopopéia (2009), Abacaxi (1985) e Tanto faz (1981), dentre outros.