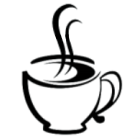Já se tornou clichê, em tempos bicudos, lembrar que a palavra crise, em chinês, também significa oportunidade. Mas clichês e lugares-comuns, quando bem usados, são de grande valia. Tarantino que o diga. A crise entre o supremo tribunal federal e o congresso, que num dia cresce no outro esfria, ao sabor das conveniências, também nos oferece valiosa oportunidade para discutir filosofia política e teoria democrática, dois temas que, por força de sua importância em nossa rotina, merecem sempre estar na ordem do dia. Definitivamente, não é um debate apenas intelectual ou acadêmico. É um debate propriamente político, e como tal, popular.
Paul Valéry observava que a melhor maneira de conferir intensidade e profundidade a uma leitura é dar-lhe um uso objetivo. Nada melhor, portanto, para estimular leituras de filosofia política do que uma boa crise institucional. Não precisa ser tão grave a ponto de provocar instabilidade e, consequentemente, causar danos econômicos, mas também não pode ser tão leve que desperte a indiferença geral.
A crise deflagrada com o debate sobre a PEC 33, idealizada pelo deputado federal Nazareno Fonteles (PT-PI) e relatada pelo tucano João Campos (PSDB-GO), tem o tamanho perfeito. É grave porque afeta o relacionamento entre os poderes, e traz itens que reduzem os superpoderes do STF. Ao mesmo tempo, como ainda é apenas um debate preliminar no parlamento, pode ser travado com relativa tranquilidade.
Neste sentido, as violentas declarações do ministro Gilmar Mendes contra a PEC 33, e a sua liminar probindo a mera tramitação da lei que regulamenta a fidelidade partidária, não poderiam ser mais oportunas. Gilmar, em sua afobada ira, desempenhou o papel de Mefistófeles: fazendo o mal, emprenhou o bem.
A decisão do presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, Décio Lima (PT-SC), de que fará um ato de desagravo em favor da PEC 33, é a prova disso.
O debate está vivo. Viva a democracia! O STF deve sim, em nome da democracia, ser constamente questionado, criticado e limitado pelos outros poderes e pela opinião pública (a verdadeira opinião pública, não confundir com a opinião de meia dúzia de colunistas de jornal e seus papagaios na classe média). Assim como são o Executivo e o Legislativo.
Seguindo o exemplo de Valery, e estimulado pela crise, comprei e comecei a ler um excelente livro de Robert Dahl, o principal cientista político americano dos últimos 30 anos, A Democracia e seus Críticos. E hoje li um ensaio do mesmo autor sobre a suprema corte americana e seu papel na democracia.
É sobre este último texto que gostaria de falar hoje. Nas últimas semanas, temos lido, nos jornais e redes sociais, todo o tipo de leviandade teórica sobre a função do STF na democracia. Um colunista do Globo asseverou, presunçosamente, que em nenhum lugar do mundo o Congresso tem a “última palavra” em termos de constitucionalidade. Mentira. Em várias democracias, esse controle pertence a uma comissão especializada do parlamento.
Uma das ideias mais repetidas, na defesa do STF, é que ele teria obrigação de defender as “minorias’. Pois é, Dahl toca justamente neste ponto. De fato, admite Dahl, o entendimento comum nos EUA é de que a corte suprema teria a obrigação de “defender as minorias” contra este eterno risco de uma democracia de massas, que é se tornar uma ditadura da maioria. Acontece que, explica Dahl, não é bem o que acontece.
Dahl escreve um ensaio bastante ponderado sobre a suprema corte americana, mas se percebe claramente que ele pretende responder, inclusive para ele mesmo, um apaixonado defensor da teoria democrática, às críticas de que a corte suprema é uma anomalia não-democrática dentro do sistema republicano. Ele não aceita que, numa democracia, seja uma “virtude” a existência de uma instituição que defenda uma “minoria”. Não porque seja contra os direitos fundamentais dos indivíduos, mas porque ele observa que o próprio sistema representativo e proporcional da democracia americana (que é parecido com o nosso) já pressupõe o direito das minorias. Ele desconfia, sobretudo, que essas “minorias” a serem defendidas pelo STF não seja exatamente a minoria que mais precisa de proteção.
O tema do ensaio de Dahl é justamente o que nos interessa: o poder da suprema corte de invalidar, como inconstitucionais, leis aprovadas pelo congresso e sancionadas pela presidência da república. Mesmo claramente antipático a corte, Dahl procura defendê-la com a justificativa, um tanto esfarrapada, de que ela jamais conseguiu bloquear, por muito tempo, a soberania popular. Digo esfarrapada, porque a defesa de Dahl é um ataque disfarçado. Ele lembra, por exemplo, que a suprema corte americana atrasou, por décadas, uma lei federal que proibia o trabalho infantil (com menos de 14 anos) nos EUA. De maneira geral, a corte suprema tem um longo triste histórico de proteger determinadas “minorias” econômicas em detrimento de direitos trabalhistas e raciais. A partir dos anos 60, a corte suprema deu algumas vitórias importantes ao movimento negro, mas apenas após um movimento popular, político, civil, sindical de grandes proporções, todos regados a muito sangue, revoltas, quebra-quebra e prejuízo econômico. Durante um século após o fim da escravidão, os negros viam a corte suprema americana como uma de suas principais adversárias, sempre chancelando, como “constitucionais” as leis estaduais racistas.
Dahl apenas perdoa a corte suprema americana justamente pelo que a nossa mídia mais criticaria. Dahl defende o que a nossa mídia chamaria de “chavismo” e diz que a história republicana nos EUA é uma sucessão de “chavismos”. Não usa esse termo, mas é como se fosse. São alianças políticas, representando visões de mundo, que vão tomando conta de todas as instituições. O movimento me lembrou o que vivemos e estamos em vias de viver no país. Há primeiro uma ruptura, com a eleição de um grupo diferente (Lula, Roosevelt); depois há um período de fortes turbulências, quando o sistema está tentando se ajustar (mensalão, críticas virulentas ao New Deal); depois há consolidação do projeto (Dilma, reeleição de Roosevelt); por fim há o desgaste do projeto e sua derrota.
No período que se seguiu à guerra civil, houve um longo período de domínio republicano, no tempo em que os republicanos eram uma força progressista e abolicionista. Eles indicavam juízes republicanos, sintonizados com suas mesmas ideias. Por isso mesmo, lembra Dahl, os juízes da suprema corte em geral são indivíduos que sempre manifestaram claramente suas ideias e visões de mundo, raramente com muita experiência no ofício de julgar.
O cientista apenas lamenta que muitas vezes essa “sintonia” entre a soberania parlamentar e o poder judiciário demore a se acertar, como aconteceu nos primeiros anos do governo Roosevelt, em que a suprema corte bloqueava praticamente todas as leis propostas pela coalização governista, com vistas a enfrentar a crise econômica pela qual passava os Estados Unidos. Roosevelt teria dado pouca sorte no primeiro mandato, porque pode indicar poucos juízes, mas ao longo do segundo e terceiro mandato (elegeu-se ainda para um quarto, mas morreu logo) conseguiu reverter a situação, indicar juízes “amigos”, ou, em termos atuais, chavistas, e aprovou as reformas que entendia necessárias ao país.
Resumindo, Dahl apenas aceita a corte suprema porque entende que ela, mais cedo ou mais tarde, acaba se ajustando à coalizão governista. Aliás, ele defende que a função da suprema corte é justamente conferir legimitidade às ações da coalização que governa o país, chancelada pela soberania popular. A oposição judiciária ao governo eleito pelo povo é considerada uma anomalia pelo cientista, felizmente diluída pela escolha assertiva de novos representantes.
E aí voltamos ao erro crasso de Lula e Dilma: não entenderam a importância do STF, em como seria importante, para a estabilidade política e para a coerência democrática, que tivéssemos ministros adequadamente sintonizados com a soberania popular encarnada na coalização governista. Esse é o sentido de dar ao presidente o poder de escolher os ministros do STF e ao congresso o poder de vetá-los. O STF não é um terceiro parlamento, com direito ilimitado de se opor ao governo e ao congresso. Quando isso acontece, em geral não é para o bem de nenhuma “minoria” despossuída, e sim em favor de “minorias” econômicas, ou pior ainda, políticas, como foi o caso da trupe oposicionista que foi ao STF na semana passada beijar a mão de Gilmar Mendes.
Quanto ao controle da constitucionalidade das leis, a solução da PEC 33 me parece razoável. Ela não ficará a cargo do congresso, mas sim do povo, mediante plebiscitos. Não estamos falando de produzir uma democracia “plebiscitária” (embora eu não veja esse termo como pejorarivo), porque esse tipo de solução continuaria sendo raro. De maneira geral, o que aconteceria, na prática, era que o STF pensaria duas vezes antes de declarar a inconstitucionalidade de uma lei aprovada no parlamento, e o próprio parlamento, ciente das implicações, só arriscaria a aprovação de uma lei que estivesse em sintonia com os anseios do povo.
Claro, democracia é sempre um risco. O próprio Dahl, em seu livro A Democracia e seus Críticos, elege a “guardiania” como o principal adversário da democracia. Trata-se da crença, na verdade muito mais antiga e longeva que a democracia, de que somente uma vanguarda culta e moralmente superior poderia governar a sociedade. Até hoje, muita gente pensa assim, à esquerda, à direita, entre progressistas, entre reacionários, comunistas e liberais. A supervalorização do STF é um ressurgimento da guardiania. São juízes cultos e severos que nos salvariam da ignorância das massas e dos caos e corrupção dos parlamentos. É o velho mito aristocrático. Só que este é um receio profundamente antidemocrático, e injusto. Historicamente, tanto nos EUA quanto no Brasil, as grandes decisões progressistas vieram do parlamento, jamais do judiciário. Na Argentina, no Uruguai, na França, a aprovação de união homossexual, direito ao aborto e descriminalização das drogas foram aprovados em debates no parlamento, o que confere às novas leis uma legitimidade muito superior a decisões sempre algo monocráticas de um tribunal fechado.
Cuidemos para que o medo do povo, e o nosso afã de darmos soluções rápidas a alguns tabus sociais, não nos empurrem para um processo de deslegitimização da política e empoderamento excessivo de um judiciário sem comprometimento com a soberania popular. De que adiantará o STF aprovar o casamento gay e em seguida derrubar um presidente eleito em prol de outro, ultraconservador? Mais importante, o que está em jogo é o tipo de regime no qual pretendemos viver: numa república democrática ou numa república dominada por uma aristocracia judicial?