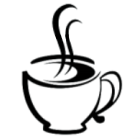Pesquisando no Google, achei uma historinha contada por um internauta sobre a origem da expressão “dar um migué”.
Um musico, tinha que se apresentar, como não conseguiu, qdo perguntaram para ele porque ele não foi, ele respondeu: não pude ir, mas eu mandei o miguel… o migué não apareceu?
Embora a expressão me incomode um pouco, por razões óbvias, tenho que admitir que é uma dessas deliciosas brasilidades que se popularizam justamente pelo poder de síntese para resumir toda uma situação.
A saída de Henrique Alves para contornar uma crise institucional entre o Supremo Tribunal Federal e o Legislativo foi justamente dar um migué. E o fez com muito engenho. Todo mundo ficou feliz, satisfeito, tranquilo, apesar dele não ter dito nada de concreto.
Na verdade, uma crise institucional entre Legislativo e STF não interessa ao Brasil. Nem o problema político hoje é exatamente o Supremo, e sim o poder de uma mídia agigantada pelo monopólio e fortalecida pela postura de “cartel ideológico” adotada pelos principais grupos do setor. Todos defendem a mesma ideia, publicam os mesmos editoriais, usam inclusive os mesmos colunistas. Roberto Romano, o professor de Ética, não sai do Globonews; dali corre para escrever um artigo para o Estadão a tempo de dar uma entrevista à Folha antes do jantar.
Quer dizer, é uma conjunção de dois fatores: fraqueza de caráter de ministros do STF, que se vergaram aos holofotes; e força excessiva de um poder político não regulamentado, como é o da mídia.
Renan Calheiros também teve a cautela, talvez até excessiva, de recuar vários passos em sua relação com a mídia, após a estrondosa bofetada, sem luvas, que seu partido aplicou nos udenistas, ao eleger um de seus bichos-papões para ocupar o cargo mais importante do Legislativo.
Enfim, Henrique Alves deu um clássico migué porque o que ele vai fazer, pelo jeito, é empurrar o problema com a barriga até quase o final do mandato dos parlamentares condenados no processo do mensalão.
Até se entende o escapismo astuto de Alves. Conseguiu desmontar o clima de guerra do fim do mundo que a mídia vinha criando em torno do conflito entre STF e Parlamento. Por aí se vê a diferença entre um político e um juiz. Um político negocia, encontra uma saída pacífica onde outros apenas viam guerra.
Por outro lado, é uma saída lamentável. Porque chancela o esforço da mídia de criar uma espécie de República do Galeão contemporânea, formada pelo procurador-geral, Roberto Gurgel, alguns ministros do STF, além do batalhão de colunistas, chargistas e âncoras que trabalham sob as ordens de meia dúzia de famílias.
Alexander Hamilton, em The Federalist, assevera a importância da separação entre poderes como um dos princípios basilares da tese democrática, ressaltando a sua origem moderna, com os escritos de Montesquieu, e ao mesmo tempo ponderando que não se tratava de uma separação absoluta. Os poderes são independentes, mas mantém conexões diversas entre si, agindo uns sobre os outros como contrapesos mútuos. A natureza de qualquer poder, repete Hamilton, é o “encrouchment”, ou seja, o poder tende a crescer onde há espaço para tal. Se o Legislativo abre a guarda para o STF, a tendência é este usurpar nacos de poder ao outro, como é o que tem acontecido agora.
Joaquim Barbosa, por exemplo, tem repetido na imprensa que o Supremo é quem dá a palavra final. O jogo volta ao velhíssimo debate sobre quem é o dono da bola. Ora, mesmo na teoria democrática, não é ponto passivo a decisão última de uma questão legal. Hamilton lembra que, na Constituição Inglesa, que era para Montesquieu o que a obra de Homero foi para os admiradores de poesia épica, a apelação suprema final permanecia sob responsabilidade legislativa.
Infelizmente, nem Montesquieu nem Hamilton puderam teorizar sobre uma democracia em que o chamado “quarto poder”, a imprensa, impôs-se tão tremendamente. A importância da imprensa é inegável. Mas há uma confusão deliberada entre o que ela representa e o valor, por exemplo, da liberdade de expressão.
Uma coisa é a liberdade de expressão. Outra coisa é usar uma concessão pública como plataforma política. Isso está em debate em todo o mundo ocidental, democrático, e a briga tem sido mais feia na América do Sul por serem países onde seus conglomerados de mídia são herdeiros de ditaduras.
Em todos os países, a mesma sinistra ironia: empresas de mídia que se agigantaram durante regimes de força, aos quais deram suporte, tornam-se verdadeiros partidos de oposição exatamente no momento em que a democracia desses mesmos países inicia um vigoroso processo de consolidação.
Então o quarto poder, após a perda do estamento militar, começa a flertar com o estamento judiciário.
Aliás, como eu li recentemente o livro de Raymondo Faoro, impressiona-me como as pessoas tem deturpado a sua crítica ao patrimonialismo das elites brasileiras. No Império e na República Velha, havia um sistema imoral de fraude eleitoral institucionalizada, além da existência de inúmeros filtros burocráticos que impediam o livre exercício do poder pelo cidadão. Após a relativa moralização do sistema eleitoral, Faoro observa o patrimonialismo renascendo de outra forma, através do alto funcionalismo público. Criava-se um novo estamento político. A teoria de Faoro estava certa. O golpe de 64 é um golpe de funcionários públicos. No caso, militares, mas com a anuência de magistrados, procuradores e burocratas de todo o tipo, inimigos que eram dos políticos. Com a radicalização democrática que vivemos na era Lula, esse ódio patrimonialista das elites exacerbou-se, e se espelha nos discursos ultra-agressivos de um Celso de Mello, de um Roberto Gurgel, de um Joaquim Barbosa. A classe média tradicional, assinante do Globo, tem relações orgânicas com esse estamento político. Fornece-lhe os quadros. Todo mundo quer ver seu filho se tornar um alto funcionário público, um procurador, um juiz. A política é considerada uma atividade menos nobre. É instável, corrupta, maléfica. Nas palavras da Dora Kramer, em sua coluna de hoje:
[O Congresso] carece de condições morais para debater de igual para igual com o Judiciário devido aos débitos de suas excelências com a lei.
E assim voltamos às soluções de força: não mais um golpe militar, mas ações concertadas entre os membros da República do Galeão, que jamais parou de funcionar (esteve sempre aí, julgando, condenando, derrubando). O STF diz que é dele o direito de cassar parlamentares. O Parlamento reage, diz que o direito, segundo a Constituição, é seu. Aí o Procurador-Geral aparece na mídia com ameaças de prisão por crime de responsabilidade. Dispara-se uma saraivada de artigos, charges e reportagens, e eis que o touro se cansa e morre na arena, exangue. Um político pode ser corajoso, mas suicida, só Getúlio.
A mídia, com a desenvoltura que a falta de regulamentação lhe proporciona, emerge como um poder real na democracia, mas ao mesmo tempo simulando não fazer parte dele. A imprensa denuncia “os poderosos” sem alertar aos leitores que também ela é um poder, mas invisível.
A teoria de Montesquieu sobre a separação de poderes, deveria servir à imprensa também. Para ela ser independente, o Estado deveria instaurar um fonte de recursos própria, autônoma, para os serviços de imprensa. E teríamos assim jornalistas públicos assim como temos procuradores, professores universitários, policiais, médicos e juízes. Com estabilidade, autoconfiança, bom salário, independente dos poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, o jornalista poderia ser um profissional muito mais competente e muito mais feliz. Teria tempo de ler livros, estudar, e escrever matérias de boa qualidade. E haveria, naturalmente, um corregedoria autônoma para averiguar casos internos de desvios de conduta.
A imprensa, aí sim, ganharia independência, não ficando à mercê de um sistema de publicidade alheio ao interesse popular, ou dos humores de meia dúzia de empresas com longo e triste currículo antidemocrático.
Se a imprensa é tão importante para a democracia, esse respeito não deveria se dar apenas injetando recursos públicos no bolso de magnatas da mídia, como acontece hoje.
*
Essa notinha no Painel de hoje da Folha explica o ódio da mídia à Renan Calheiros.
Essa outra aqui, no Panorama do Globo sugere que o novo partido da Marina promete depenar ainda mais os já depenados tucanos. Repare que há também um deputado petista no grupo, mas desconhecido, enquanto Marina já arregimentou ao menos dois quadros importantes do PSDB: Ricardo Tripoli e Walter Feldman. Se eu fosse um colunista de jornal, diria que “há receio, na oposição, que a candidatura da Marina pode tirar mais votos do PSDB do que do PT”.
*
E o Gurgel? Primeiro disse que iria enviar o caso Valério-Lula para Brasília, depois para São Paulo, e finalmente se decide a mandá-lo à Minas Gerais. E sempre dando entrevistas, ajudando a esquentar o assunto, produzindo fatos políticos. Esses caras estão bricando com fogo. A tentativa de manchar a história de Lula acrescentará um capítulo especial ao currículo dos neogorilas.
*
O problema do discurso lacerdista é que ele acaba sempre tropeçando na própria hipocrisia. Um exemplo: acabei de descobrir que um jornalista mato-grossense fez uma longa reportagem provando a ligação entre o senador Pedro Taques (PDT) e a máfia de combustível do estado. Não sei é apenas uma calúnia, como se defende Taques, mas o caso revela que, em política, não é aconselhável fazer da ética um discurso radicalizado, sectário. Não se deve adotar uma higidez moralista apoiado apenas em denúncias de jornal. Não sabemos quem é ético apenas porque fez um discurso de oposição. Muitas vezes é um oportunista. Algumas vezes, um hipócrita. No caso de Demóstenes, por exemplo, o mosqueteiro da ética da revista Veja, tratava-se do maior bandido do Senado.