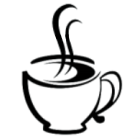Por Fabiano Santos, no Valor Econômico – 03/01/2012
Várias análises têm mostrado que a disputa partidária no Brasil, sobretudo a que gira em torno das eleições presidenciais, encontrar-se-ia bem estruturada em três blocos. Um primeiro segmento votaria no PT e na esquerda de uma maneira mais ampla. Um segundo segmento corresponderia ao eleitorado conservador, por isso rejeita o PT e tem optado pelos candidatos do PSDB em aliança ou não com o DEM, antigo PFL. O terceiro segmento seria o assim chamado eleitor “pivotal”, mediano ou de centro. Mais volátil, decide seu voto ao longo da campanha, sopesando custos e benefícios esperados de cada opção. Sendo a tese correta teríamos, então, um eleitorado dividido em dois blocos, segundo o tipo de decisão de voto: aqueles que votam na esquerda e os que a rejeitam fariam parte de um mesmo grupo, a saber, dos que votam prospectivamente, de acordo com visões de mundo e em programas. O segundo grupo seria formado exclusivamente pelo eleitor de centro, o “pivotal”, eleitor que decide seu voto retrospectivamente, com base no desempenho do governo e no que apreende ao longo de campanhas eleitorais.
Uma premissa importante dessa estória repousa no papel ocupado pelas forças que ofertam candidatos e políticas ao eleitor. Pela esquerda, de fato, o PT e partidos aliados de esquerda têm feito sua parte, administrando conflitos internos de maneira a não comprometer seus objetivos primordiais, quais sejam, manter a Presidência e ministérios sob seu comando, além de continuar aplicando políticas de resgate da dívida social brasileira. O problema mora no lado conservador, no bloco anti-esquerda. A disputa fratricida, com desdobramentos editoriais de estrondoso sucesso, além de propostas de CPI, não depõe a favor das lideranças de um projeto de oposição à altura das necessidades do país. Nem, ademais, das legítimas aspirações de sua clientela eleitoral cativa, na qual se inclui boa parte de nossas elites econômicas, além de “formadores de opinião”.
Na democracia, tão importante quanto se ter um governo legitimado pelo voto e que tenta verter em políticas prioridades reveladas pela maioria da população é a existência de uma ou várias forças de oposição a este governo. Mais especificamente, é a existência de um partido ou coalizão de forças que se apresente como alternativa crível para o conjunto do eleitorado que distingue um regime político como democrático. Se a disputa entre lideranças é fator inarredável da vida dos partidos, é também verdadeiro que a partir de certo limite o conflito deixa de ser um dos componentes inevitáveis da convivência democrática e passa a comprometer a credibilidade dos atores que dele fazem parte. Passa a comprometer a capacidade destas lideranças em articular interesses e ideias alternativas às que preponderam no governo em torno de uma agenda consistente de políticas. Difícil precisar quando tal limite é ultrapassado; entretanto, há indícios importantes de que o processo vem ocorrendo no âmbito da oposição.
Um exemplo consiste na recente criação do PSD e seu posicionamento de neutralidade que assumiu vis-à-vis o governo. Ora, não é possível dissociar a decisão de políticos de orientação conservadora de criar um novo partido, cujo código de conduta é a possibilidade de vir a fazer parte de qualquer governo, da incapacidade dos tucanos de se manterem como alternativa viável de projeto de poder. Pois bem, se a estória de criação do PSD torna-se um padrão, então, claramente não estaremos mais diante de uma vida partidária estruturada em torno de dois blocos na disputa presidencial, convivendo com uma pluralidade de forças, de oposição e sustentação ao governo, no âmbito legislativo. A dinâmica da política brasileira estaria se aproximando mais dos processos de construção e ruptura de coalizões, tal como teorizada pelo cientista político norte-americano William Riker, em 1963.
Em sua obra clássica, “The Theory of Political Coalitions”, Riker apresenta a política como um jogo de soma-zero sendo seu prêmio fundamental a conquista de posições no governo. Como estas posições são limitadas, ou “escassas”, os parceiros de hoje podem tornar-se os inimigos de amanhã. Visões de mundo, conflitos em torno de interesses de atores sociais, sejam baseadas em classes ou identidades alternativas, nada mais seriam do que elementos secundários de um mesmo e mais fundamental objetivo, a saber, controlar a máquina governamental. Neste cenário, uma oposição não se torna governo porque vence eleições a partir da articulação de interesses e ideias alternativas as que ocupam o poder. Uma oposição “conquista” o governo por conta de um rearranjo de forças ocorrido no âmbito da coalizão predominante, que eventualmente se torna muito grande. Eleições teriam muito pouco a dizer neste processo, seriam uma espécie de epifenômeno de algo mais essencial – a luta intra-elites pela ocupação de espaço no poder do Estado.
Nenhuma teoria sobre a política representa aquilo que ocorre verdadeiramente no processo de disputa pelo poder. A política resulta das escolhas promovidas pelos atores que participam deste processo, escolhas que são feitas em circunstâncias históricas concretas. Se a política brasileira continuará bem estruturada em torno de dois blocos, que representam alternativas relativamente claras para os eleitores, não sabemos de antemão. Isso dependerá de decisões e cursos de ação adotados pelas lideranças dos partidos que têm protagonizado o conflito político desde meados dos anos 90 do século passado. Pelo lado do governo, não vejo indícios de que esta dinâmica possa vir a ser quebrada. Pelo lado da oposição, não obstante, observo caminho mais tortuoso, no qual personalidades têm se colocado acima das instituições. Isto não é bom para a democracia. Não é bom para o país.
Fabiano Santos é cientista político, professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Iesp/Uerj) e colunista convidado do “Valor”. Raymundo Costa volta a escrever na próxima semana.